#34 A FELICIDADE: A obrigação de sorrir
Como a imposição de ser feliz a todo custo ajudou a formar uma sociedade cada vez mais individualista e propensa à depressão


Quando perguntaram a Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), já idoso, se tivera uma vida feliz, o escritor alemão respondeu que sim, mas disse não se lembrar de uma única semana em que o houvesse sido. Nada menos faustoso. Nem mais preciso: a máxima traduz de forma irretocável a natureza fugidia da felicidade. É algo que ninguém deixa de reconhecer, e no entanto não se consegue explicar de modo definitivo. O tormento coincide com os primeiros sismos da filosofia. Na Grécia antiga, o ser feliz estava ligado à procura do bem supremo e da virtude. Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) via a felicidade como “a atividade da alma dirigida pela liberdade”. Nada mais moderno, sobretudo quando se considera que Sigmund Freud (1856-1939) vinculava a felicidade à liberdade. Como Jean-Paul Sartre (1905-1980) acreditava que o homem está “condenado” a ser livre, a felicidade seria uma sentença?
Se a resposta é “sim’”, então a felicidade é uma bela condenação. Uma rápida pesquisa em livrarias penduradas na internet revela mais de 60 000 títulos que apregoam a melhor maneira de alcançar aquele, digamos, estado de satisfação plena. Um curso sobre como ser feliz inaugurado em 2017 na Universidade Yale, nos Estados Unidos, bateu o recorde em matrículas nos 316 anos da prestigiosa instituição — e acabou servindo de inspiração para uma idêntica disciplina oferecida agora na Universidade de Brasília (UnB). “De todas as emoções humanas, a felicidade é a mais difícil de definir”, disse a VEJA o filósofo francês Pascal Bruckner. “É algo que muda de acordo com a pessoa, a época e a idade. Ela pode ser encontrada em alguns momentos, contudo não vem quando a chamamos — e chega quando menos se espera”.
Em seu livro A Euforia Perpétua (2000), Bruckner detalha como a obsessão por essa quase miragem se impôs com características de um pesado fardo sobre os ombros ocidentais a partir da segunda metade do século XX. A busca pela felicidade, considerada pelos iluministas uma prerrogativa de todo ser humano, passaria a ser, sob o incentivo dos movimentos de contracultura da década de 60, um ideal coletivo e obrigatório. Em outras palavras: o que era um direito se tornou quase um dever. Bruckner localiza isso no lendário Festival de Woodstock, que se realizou entre 15 e 18 de agosto de 1969, nos Estados Unidos.
O fenômeno encontraria sua justificativa em duas grandes mudanças. A primeira se deu no âmbito do capitalismo: já não bastava trabalhar; era preciso consumir. E fomos todos às compras. Quando mostramos a maior casa, o carro mais novo, a roupa de marca, somos reconhecidos pelo outro como vitoriosos. E, nesse reconhecimento, nós nos sentimos bem. Entretanto, trata-se de uma sensação efêmera, porque sempre se quer mais, o que gera enorme ansiedade. “O ser feliz inclui momentos de frustração, de inquietação, de angústia, de busca que não é atendida”, comenta o economista Eduardo Giannetti, autor de Felicidade (2002). “Vivemos, porém, uma época em que todos os desejos têm a expectativa de ser imediatamente satisfeitos. Se não o são, temos a impressão de que estamos perdendo algo”, acrescenta.
A segunda mudança foi o impulso do individualismo, alimentado pelo enfraquecimento da ideia de uma moral generalizada, como já havia detectado o existencialismo, e pela ampliação do sentimento de descrença em algum tipo de vida após a morte. A partir do momento que a moral ganha ares de escolhas particulares e a sorte de cada um não é mais uma questão da providência divina, é preciso tomar as rédeas do próprio destino. Se o indivíduo não é feliz, só tem a si mesmo para culpar. Começa-se então a enxergar a felicidade como o objetivo final da vida, e não como um momento alegre na existência. Assim, quem não se considera feliz passa a se sentir simplesmente como alguém excluído da sociedade.
Para Goethe, ser feliz não significava uma vida sem dificuldades, e sim ter conseguido superá-las. Essa noção perdeu vigor no último meio século. Hoje, a menor contrariedade atinge os indivíduos como uma afronta. “As pessoas se sentem infelizes por não ser felizes. Não percebem que estar bem o tempo todo pode ser uma maldição”, atesta Bruckner. “O ser humano funciona na falta. Quando nos sentimos incompletos, sonhamos e criamos mais”, afirma o psicanalista Jorge Forbes. A busca é, portanto, o motor da felicidade.
A natureza abstrata e caprichosa do ser feliz elucida o poder sedutor desse sentimento. Nunca sabemos se somos integralmente felizes, e o mero ato de formular a pergunta já faz com que deixemos de sê-lo. Para Forbes, trata-se de uma experiência de satisfação plena que leva quem a vive a questionar a si próprio. “A felicidade é sempre um encontro surpreendente, que sidera o indivíduo que o experimenta a ponto de ele temer perder o controle”, destaca o psicanalista. Nada a ver com a sensação comezinha vivenciada, por exemplo, após a vitória do país numa Copa do Mundo. Para entender melhor isso, é preciso fazer uma distinção entre o estar feliz e o ser feliz. O primeiro é um estado de ânimo, uma circunstância que oscila no dia a dia. Já o segundo não é resultado de um cálculo; assim, quando chega, interrompe o curso do tempo e causa assombro. Para saboreá-lo é preciso coragem, não se medir pela expectativa dos outros nem se deixar abater pela angústia de que se trata de algo transitório. Até porque muito provavelmente a coisa se repetirá.
Em fevereiro deste ano, na reportagem de capa “A ciência da felicidade”, VEJA noticiou um estudo da Harvard que acompanhou 300 pessoas durante oitenta anos a fim de descobrir o que faz alguém feliz. Segundo a pesquisa, todos os que disseram ter tido uma vida plena haviam mantido relacionamentos de qualidade — familiares, amorosos ou de amizade. Não é uma ideia nova. O filósofo Epicuro de Samos (341 a.C.-270 a.C.) já a pusera em prática quando, ao se mudar para Atenas, comprou uma casa grande em que podia abrigar uma dezena de amigos. “Mais importante que saber o que você vai beber ou comer é saber com quem vai beber ou comer”, costumava dizer. Epicuro entendia que não era a quantidade de amigos que importava, mas a qualidade das amizades.

Passados mais de dois milênios do epicurismo, permanece o xis da questão: como manter relacionamentos de “qualidade”? Com 7,6 bilhões de almas no planeta, nunca tantas pessoas viveram e envelheceram tão sozinhas. O número de casamentos e a taxa de fertilidade nos países desenvolvidos vêm diminuindo. Mais indivíduos estão trabalhando em casa; já não vão ao escritório. Sindicatos, associações cívicas, organizações de vizinhos, grupos religiosos e outras fontes tradicionais de solidariedade social estão perdendo terreno, o que aumenta a sensação de isolamento. O Centre for Time Use Research, grupo de pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, faz um alerta para o fato de que os americanos passam menos de meia hora por dia falando com outro ser humano, e 30% admitem jantar sozinhos. Segundo a organização Fondation de France, 30% dos franceses não têm um confidente. Na Inglaterra, 9 milhões de pessoas sofrem algum distúrbio relacionado à solidão. A Agência Nacional de Estatísticas, sediada em Londres, divulgou um estudo em que mostra que jovens entre 16 e 24 anos são os que mais reclamam da falta de companhia: 10% dos entrevistados disseram se sentir frequentemente sozinhos. Em janeiro passado, a premiê Theresa May criou o Ministério da Solidão, para combater o que chamou de “a triste realidade da vida moderna”.
E as novas tecnologias, não estão mudando esse quadro? Ao contrário, parecem agravar o problema. No raciocínio da escritora inglesa Ruth Whippman, autora do livro America the Anxious (América, a Ansiosa, 2016), o uso das mídias sociais só aprofundou as divisões e distâncias já existentes. “A introspecção e certo grau de solidão são partes importantes de uma vida psicologicamente saudável. No entanto, em algum ponto do caminho perdemos o equilíbrio”, avalia ela. Faz sentido. De que adianta ter milhares de seguidores nas redes e nenhum amigo para ir ao cinema? Quando desliga o celular, o computador, o tablet, o indivíduo se vê mais sozinho que nunca.
A dificuldade em criar vínculos é preocupante porque relações interpessoais saudáveis aumentam a longevidade. Pessoas solitárias enfrentam mais obstáculos para dormir, apresentam baixa imunidade e maior nível de stress. Alguns estudos sugerem que a solidão pode aumentar em 50% o risco de morte prematura. Se ela é tão nociva, por que as pessoas ainda se relacionam via aplicativos, em detrimento da vida real? Para Giannetti, o problema é que a tecnologia dá a impressão de nos proteger do sofrimento inerente a todo relacionamento pessoal. “Ao nos relacionarmos virtualmente, temos a sensação de estar no controle; deletamos quem nos desagrada. Contudo, isso é viver na retranca”, sublinha ele. “Por mais que a tecnologia nos resguarde dos males do mundo, o que ela nos oferece não é felicidade, é prudência”, acrescenta Bruckner. A prudência, tal como a satisfação plena, pode ser paralisante. A verdadeira felicidade é o que move.
Publicado em VEJA de 26 de setembro de 2018, edição nº 2601


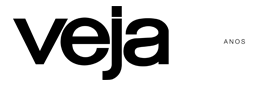

 Marina Silva fala sobre ataques machistas que sofreu no Senado
Marina Silva fala sobre ataques machistas que sofreu no Senado Moraes manda intimar general a depor como testemunha de Torres
Moraes manda intimar general a depor como testemunha de Torres Entenda o projeto que proíbe influencers de fazerem propaganda de bets
Entenda o projeto que proíbe influencers de fazerem propaganda de bets







