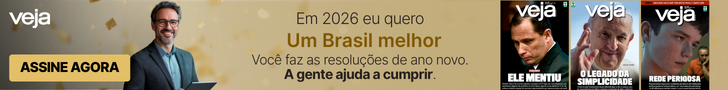‘Nada como esse abraço’, diz mãe do bebê que sobreviveu a ataque em SC
Adriana Martins fala de seu alívio: 'Vivi o pior dos pesadelos'


Vivi o pior dos pesadelos. Eu estava no trabalho, que fica a menos de 500 metros da creche onde Henryque estudava, quando percebi uma movimentação estranha entre meus colegas. Uns faziam ligações, outros conversavam discretamente entre si, todos muito apreensivos. Tive certeza de que algo ruim estava acontecendo, mas não fazia ideia do que enfrentaria naquele dia trágico. Foi então que avisaram que havia uma emergência na escolinha. Saí correndo em um ato instintivo, antes de receber qualquer informação ou detalhe. Já na frente da creche, vi meu marido na porta. A entrada estava lotada e eu só escutava boatos de que um louco havia ferido a faca e matado crianças e professores. Tive uma crise incontrolável de choro, nunca senti tamanho desespero, desabei. Precisava saber onde estava o meu filho. E de repente veio a notícia: Henryque fora encaminhado para a emergência. Mas como ele estava? Vivo? Morto? Corremos para o hospital.
Ao chegar lá, senti um imenso alívio — ele estava vivo —, logo seguido de tensão. Não pude entrar na sala de cirurgia e fiquei do lado de fora olhando meu filhinho sendo operado e perdendo grandes quantidades de sangue. Ele chorava, chorava, e, apesar da minha agonia, ouvir aquele pranto me tranquilizava em alguma medida. Era um claro sinal vital. Eu me concentrava nisso. O reencontro com ele ocorreu na unidade de terapia intensiva, para onde foi transferido. Ali avistei meu bebê de menos de 2 anos todo inchado por causa dos ferimentos, marcas que aquele louco deixou em seu corpo sem que ele tivesse sequer consciência do que se passava. Henryque sofreu lesões na bochecha, lábios, barriga, pescoço e uma perfuração em um dos pulmões. Meu filho só abria os olhos ao ouvir minha voz e, inerte, voltava a dormir. Quando finalmente acordou, horas mais tarde, me pedia colo, mas eu não conseguia dar. Henryque estava preso aos aparelhos. Acabei arranjando um jeito de amamentá-lo, de pé e driblando os fios, e era o que o acalmava e me ligava fisicamente a ele.
Cinco dias depois, estávamos em casa, tendo virado a página do hospital, mas não a do massacre, que lhe deixou sequelas com as quais briga diariamente. Ele correu sério risco de vida, e aquela incerteza em que mergulhei depois do ataque, misturada à dor e à indignação, me consumiu. Mas nunca deixei de acreditar que meu bravo menino sairia dessa. Certamente a violência a que foi submetido o abalou: no hospital, tinha pesadelos e acordava chorando, inquieto. Agora, em casa, está dormindo melhor e vivendo uma rotina próxima do normal. Mas sei que as marcas da brutalidade não se apagam sem esforço e, por isso, cogitamos procurar um psicólogo. Antes, ele era uma criança aberta, brincava com qualquer um, ia no colo dos outros, mas isso mudou. Henryque ficou desconfiado, parece ter medo das pessoas.
Não consigo nem pensar em como vai ser o retorno à escola. Sua recuperação física caminha bem, mas ele ainda tem muita tosse porque o pulmão perfurado acumulou secreção. Brinca e logo fica cansado. Foi terrível ver meu filho à beira da morte de uma hora para outra. Agora, é acompanhá-lo na luta para se recuperar 100%. O Dia das Mães em família, após o massacre, foi um momento especial, um presente. Não sinto ódio do jovem que o atacou, só quero o justo, que seja preso. Essa experiência transformou minha percepção sobre a vida. Três crianças e dois adultos morreram, e ele não. O que eu posso dizer? Que sou uma pessoa de sorte e sigo com a fé renovada. Cada pequena coisa que vejo meu filho fazer — correr pela casa, brincar com a irmã e gritar “mamãe” — se tornou de grande significado. Celebro cada vitória.
Adriana Martins em depoimento dado a Duda Monteiro de Barros
Publicado em VEJA de 02 de junho de 2021, edição nº 2740