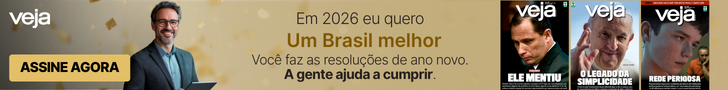Paraisópolis: Pânico e dor no beco escuro
'Após a comoção da sociedade com as mortes, voltamos a ficar em nosso estado normal de abandono', lamenta presidente de associação de moradores

Antes do enterro dos nove jovens mortos na madrugada de 1º de dezembro durante um pancadão em Paraisópolis, na cidade de São Paulo, manifestantes colocaram um crucifixo de madeira manchado de tinta vermelha na Viela do Louro, o local para onde muitos correram acuados por bombas de gás lacrimogêneo atiradas pela Polícia Militar. Além dessas vítimas, muitas pessoas saíram de lá com ferimentos provocados por pisoteamento. Segundo a versão oficial, os agentes entraram na favela ao perseguir bandidos em uma motocicleta que teriam efetuado disparos em direção aos PMs e usado os frequentadores da festa como escudo humano. De acordo com relatos de moradores, não houve perseguição alguma: apenas uma ação desastrada dos soldados dentro da política de repressão a esse tipo de festa. O governador João Doria lamentou as mortes, mudou de função os policiais envolvidos, prometeu rigorosa investigação e puniu um soldado que aparece em um vídeo agredindo pessoas em outra balada no local. Com 100 000 habitantes, Paraisópolis é a segunda maior favela de São Paulo. Tem cerca de 21 000 casas, doze escolas públicas e três Unidades Básicas de Saúde. Não há praça nem parque por lá. Com som alto e consumo de drogas, o baile funk virou a única opção de lazer para os jovens — e não deve sumir do pedaço. “Após a comoção da sociedade com as mortes, voltamos a ficar em nosso estado normal de abandono”, lamenta Gilson Rodrigues, presidente da União de Moradores de Paraisópolis. Já é hora de as autoridades mudarem esse triste roteiro. A cruz da Viela do Louro está no beco para lembrar a necessidade urgente de justiça.
Publicado em VEJA de 11 de dezembro de 2019, edição nº 2664


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO