Este livro foi escrito no calor e no calafrio da hora. Tem início no primeiro lockdown da pandemia no Reino Unido, em março de 2020, e nos leva até dois anos depois, quando a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin tinha apenas começado. Enquanto escrevo estas páginas, a guerra irrompeu no coração da Europa, despedaçando a ilusão, em parte alimentada pela pandemia, de que o mundo está unido no combate às mortes desnecessárias.
Tal união era, de qualquer forma, um mito afinado com o privilégio e a cegueira ocidentais, como atestam de modo bem claro as inúmeras guerras em continentes que não merecem a mesma atenção da imprensa — do Iêmen à Síria e à Etiópia. Um dos aspectos mais difíceis destes últimos anos foi conciliar o que no início parecia uma inédita solidariedade global em resposta à pandemia com as desigualdades que aos poucos, ou nem tão aos poucos assim, emergiram na vida pública, expondo a brutal vulnerabilidade de subalternos, marginalizados, oprimidos e pobres.
Não houve propósito comum capaz de evitar que o poder da riqueza e do status desse a palavra final sobre quem vive ou quem morre — seja sob o disfarce de grandes farmacêuticas impedindo a quebra de patentes de vacinas anticovid, seja na explosão dos casos de violência doméstica ou na ameaça diária de assassinatos racistas nas ruas.
A pandemia atacou como uma força da natureza, mas, assim como a catástrofe climática, revelou também até que ponto a natureza é um joguete dos caprichos humanos. E então, à medida que a violência russa na Ucrânia aumentava dia após dia, o mundo se deparou com uma tirania de Estado megalomaníaca, que proclama audaciosamente sua capacidade de arrasar o planeta.
Quando a violência assume a forma de tanques nas ruas, não podemos mais atribuí-la aos céus. Um dos mais estranhos e perversos dons da guerra é sua capacidade de destruir qualquer ilusão de que a morte é de alguma forma aleatória e isenta de cálculo humano. Ao contrário, a morte está nas
mãos da própria autoridade legal a que recorremos para refreá-la. Na verdade, ela sempre nos espreita, sendo a um só tempo a evidência mais contundente de arranjos sociais injustos, uma prerrogativa do Estado e uma advertência em relação aos limites do poder humano.
Como você lida com a morte (e a finitude) quando não é mais possível confiná-la aos limites de sua experiência de vida e extirpá-la de sua consciência? Como convive com a morte, ou melhor, como “vive a morte” — formulação que à primeira vista pode parecer um desafio à inteligibilidade —, quando ela se aproxima demais, impregnando o ar que você respira? No que virá a seguir, “viver a morte” aparecerá como uma espécie de refrão, um lembrete de que imaginá-la como acaso, ou como intrusa que pode ser evitada na organização de nossas vidas, especialmente no Ocidente, é um ato de resistência condenado ao fracasso.
No pensamento da filósofa Simone Weil, é apenas ao admitir os limites humanos que iremos parar de nos vangloriar da ilusão vulgar de ter um poder terreno, como se possuíssemos o mundo em que vivemos.
Talvez, então, com o reconhecimento de tais limites, o mundo pareça menos assassino. Matar é um dos meios mais eficazes, mas também desesperados e autodestrutivos, de evitar a própria morte (uma fantasia demonstrada pela necessidade dos serial-killers de matar de modo sistemático). Para Putin, ser presidente vitalício não é o bastante. Ele almeja as estrelas.
O objetivo de destruir a Rússia “tem séculos e permanece inalterado”, segundo Dmitry Kiselyov, âncora de TV pró-Kremlin. Nas palavras do escritor ucraniano Oleksandr Mykhed, a Rússia é um país que “vive a crença sagrada de que existirá para sempre”.É em nome da “Rússia eterna” que chovem mísseis na Ucrânia (ainda que, até essa guerra, as potências ocidentais tenham preferido considerar Putin um tecnocrata racional com
quem podiam negociar).
Os ditadores sempre acreditam — ou melhor, agem como se acreditassem — que são invencíveis, embora em algum lugar saibam que isso é mentira. Razão pela qual respondem a cada sinal de possível fracasso — um comboio de 65 quilômetros de tanques russos, que a Ucrânia jamais poderia igualar, paralisado na lama do início da primavera no começo da guerra — avançando ainda mais.
Como guerreiros, o que exércitos invasores querem — escreve Weil naquele que talvez seja seu mais famoso ensaio, “Ilíada ou o poema da força” — é “tudo”. “Esquecem um pormenor: que nem tudo está sob seu poder.” Para o povo russo, qualquer vitória será sem sentido. Restará a urna funerária de seus sonhos.
Precisamos de uma mentalidade diferente, que não reduza o mundo a seus piores contornos, mas vá contra a corrente, seguindo os mais sinuosos, arriscados e criativos caminhos da mente. É possível imaginar um mundo em que o mais profundo respeito pela morte exista ao lado de uma distribuição mais justa da riqueza da Terra, para que cada indivíduo tenha sua parte?
Como podemos assegurar dignidade tanto para a morte quanto para a vida? Como honrar os corpos das vítimas sem nome da covid queimando à noite nas ruas de cidades indianas, ou a mulher em Kiev recolhendo os cacos de vidro da janela destruída de sua varanda, enquanto seu edifício, cuja fundação foi transformada em escombros por explosões, balança à beira do colapso?
Essas são apenas duas dentre as muitas imagens que têm me atormentado ao longo destes últimos anos, levantando questões às quais retorno repetidamente. O que podemos esperar das entidades políticas em tempos apocalípticos, regidos pela peste, quando o pior que houve decorreu manifestamente de decisões do próprio sistema de governo? O que podemos nos perguntar, ou melhor, deveríamos estar nos perguntando?
No ensino médio, ao estudar A peste, de Albert Camus, nunca imaginei que um dia — mais de meio século depois — retornaria a esse romance juntamente com centenas de milhares de outros leitores em todo o mundo. Eu buscava orientação para enfrentar a pandemia, realidade que até então convictamente situava numa época passada (de fato, o romance foi publicado dois anos antes de meu nascimento).
Essa crença tampouco se originava apenas no elo pré-histórico vinculado à própria ideia de uma “peste”: peste negra, peste bubônica, as pragas do Egito. Na realidade, Camus usa a Segunda Guerra Mundial como sua analogia para a peste, sobrepondo duas histórias extremas, uma das quais, a guerra, assombrou minha juventude, embora raramente se falasse dela, se é que se falava.
Ler seu romance foi o que me deu talvez um primeiro vislumbre de que algo pode ser encoberto por uma mortalha de silêncio e, apesar disso, resultar numa ameaça ainda maior para a vida cotidiana. Ensinou-me quão engenhosamente defensivas e autoenganosas são as habilidades da mente humana. Talvez a coisa mais difícil de reconhecer seja que, por mais inexplicável e aleatória que possa parecer a chegada de uma peste ou pandemia, por mais indiscriminadamente letal, isso é parte da história, algo que a sociedade humana e aqueles que a compõem causam a si mesmos.
* Jacqueline Rose é psicanalista, crítica cultural e codiretora do Instituto Birkbeck para Humanidades da Universidade de Londres. É autora do livro A Peste – Viver a Morte em Nosso Tempo, a ser lançado pela Editora Fósforo



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO


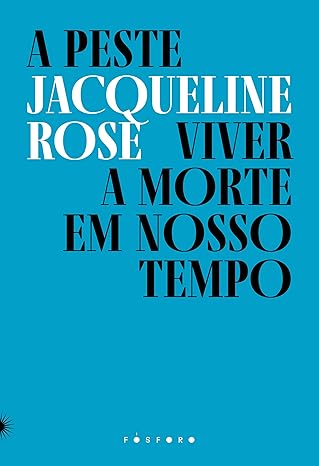



 Pacote de corte de gastos está pronto e deverá ser anunciado após Cúpula do G20
Pacote de corte de gastos está pronto e deverá ser anunciado após Cúpula do G20 ‘Símbolo máximo na nossa tragédia coletiva é a fome e a pobreza’, diz Lula ao abrir G20
‘Símbolo máximo na nossa tragédia coletiva é a fome e a pobreza’, diz Lula ao abrir G20

















