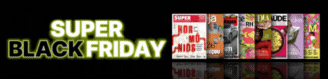O psiquiatra que repensou o racismo: 100 anos de Frantz Fanon
No centenário do pensador francês nascido na Martinica, livro reúne textos que avaliam seu legado na luta anticolonial e antirracista. Leia trecho

Fantz Fanon é um pensador sui generis, que mistura narrativa pessoal, estratégia política, teoria social, filosofias (no plural mesmo)… um oxímoro inebriante. Pele negra, máscaras brancas é reconhecidamente um livro visceral, cortante. As reflexões sobre o racismo antinegro – a negrofobia – e como ele forma (e, depois, deforma) as constituições subjetivas coloniais de brancos e negros, são cruciais para a compreensão dos vários níveis de subjugação colonial e dos termos para sua superação.
Encontramos em Fanon uma abordagem existencial-fenomenológica: uma dinâmica das narrativas pessoais profundas e suas camadas de debates teóricos densos e provocativos. Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir (mesmo que Fanon não a tenha citado), Søren Aabye Kierkegaard e Karl Jaspers são nomes com os quais Fanon dialoga para tecer o trabalho da experiência vivida pelo negro, sendo marcado, portanto, pela intelectualidade francesa da época, mas, ao mesmo tempo, levantando tensionamentos com esse campo discursivo.
Esse diálogo é recuperado e tem ganhado novas cores com autores que dialogam a partir das categorias do pós-colonialismo. Diálogos entre Michel Foucault, Edward Said, Paul Gilroy, dentre outros, são realizados de forma provocativa por Homi K. Bhabha, Stuart Hall e Françoise Vergès – autores que estão nesta coletânea. Como lembra Achille Mbembe, Fanon concebeu a libertação como “sair da grande noite”, um renascimento onde se deve “criar um novo homem” a partir da “argamassa do sangue e da ira”.
Em outras palavras, o combate anticolonial, para Fanon, não é uma mera rebelião política pontual, mas a construção de identidades radicalmente inéditas, forjadas na superação da “coisificação” do sujeito colonizado. Em seu texto, Mbembe trabalha com uma perspectiva importantíssima, destacando que a obra de Fanon foi moldada a partir de suas experiências traumáticas: a participação na Segunda Guerra Mundial e o colonialismo na Argélia.
Esses eventos, somados ao contato com a França metropolitana e as independências africanas, são chaves para entender seu pensamento e linguagem. Essas três cenas – colonialismo, nazismo e independência africana – permitem ao psiquiatra “acolher a queixa e o grito do ser humano mutilado, daqueles e daquelas que, destituídas, foram condenadas à abjeção; tratar e, eventualmente, curar aqueles e aquelas que o poder feriu, violou e torturou, ou simplesmente deixou loucas”.
Mbembe compreende que a centralidade fanoniana está nas análises sobre a luta pela independência nacional e os desafios da guerra revolucionária, assim como nas interligações entre racismo e consciência de classe, colonialismo e capitalismo e, também, entre nacionalismo, panafricanismo e socialismo. “A universalidade da obra de Fanon é portanto inseparável de sua africanidade.”
Homi K. Bhabha destaca que o “esquema epidérmico racial” imposto pelo olhar colonizador aprisiona negros e brancos em polarizações de inferioridade/ superioridade, negando a reciprocidade humana. Esse tema atravessa todo o trabalho de Fanon e oferece uma teoria da identidade como processo ambivalente, não como essência. Sua obra expõe a tensão entre violência colonial e resistência psíquica/ política, propondo um humanismo radical baseado na desalienação.
A dinâmica colonizador-colonizado é patológica, maniqueísta e delirante, o que acarreta verdadeiras prisões em papéis neuróticos. Não há reconciliação possível, apenas antagonismo. A pergunta fanoniana convocada por Bhabha é “O que quer o homem negro?” É a partir desse ponto que temos um desafio das narrativas fechadas, abrindo-se espaço para o questionamento do que ele nomeia de “mitos” – como o ser humano e a sociedade. Aqui se considera a estrutura representativa da vontade geral – lei ou cultura, compostas por violências política e psíquica profundas –, assim como a alienação da identidade, uma “virtude civil”.
A leitura que Bhabha faz de Fanon é a reivindicação de uma identidade cultural juntamente com suas diferenças. Assim, os grupos marginalizados, ao
contrário do que se contou até aqui, assumem a sua diversidade, sem negá-la. Essa interpretação recoloca Fanon e suas questões na ordem do dia.
Em um intenso diálogo com Bhabha, Stuart Hall também apresenta em seu texto um diagnóstico das posições rígidas de brancos e negros reduzidas a estereótipos fixos, e desenvolve suas questões ao observar que Fanon vê o racismo não como mero preconceito, mas como um aprisionamento da interioridade do colonizado, que precisa rasgar a imagem estereotipada projetada sobre si para existir autenticamente. Hall rejeita dicotomias entre um Fanon jovem e outro maduro, entre o psiquiatra e o militante.
Para ele, a obra de Fanon antecipa questões caras à teoria contemporânea: a formação do sujeito racializado, o papel do inconsciente no racismo e a dialética entre desejo e poder colonial. Nessa ontologia da liberdade, sua aposta é que Fanon rejeita narrativas humanistas vazias dos direitos universais do “Homem”, mostrando que tais direitos perdem força na colônia. Por isso, sua luta anticolonial articula três momentos: a destruição violenta do sistema opressor, a cura das vítimas e a criação de um novo sujeito humano, livre da marca da raça e da condição de objeto.
Assim, Fanon apresenta-se como um pensador e combatente cujo projeto, profundamente político, é de natureza ontológica, preparando terreno para urgências contemporâneas contra neocolonialismos e racismo sistêmico.
* Priscilla Santos é doutora em psicologia pela USP, membro do Laboratório de Pesquisa e Extensão — Psicanálise, Sociedade e Política do Departamento da Psicologia Clínica da USP e coautora de Pensar Fanon, que será publicado 20 de julho, dia do centenário de nascimento de Frantz Fanon, pela Editora Ubu



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO