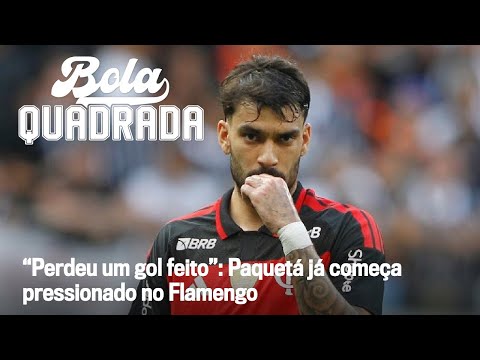O custo de fingir que os direitos não têm custo
É comum a ilusão de que basta declarar um direito para que ele se realize mas ignorar o custo não ajuda a Justiça a chegar aos mais pobres

Fingir que os direitos não têm custo é uma escolha confortável — e perigosa. Ela sustenta um ideal jurídico no qual basta escrever direitos na Constituição, reconhecê-los em decisões judiciais ou declará-los com convicção para que, magicamente, se tornem realidade. Mas essa é uma ilusão. A maior diferença entre o Direito e a Economia está justamente aí: enquanto o Direito se ocupa do que deveria ser, a Economia insiste em analisar o que de fato é. O primeiro opera no campo dos valores; o segundo, no campo das restrições. Um vive do ideal, o outro sobrevive no real.
Para quem estuda Análise Econômica do Direito (AED), essa diferença é central — e brutal. Porque quando ignoramos o custo dos direitos, não só deixamos de compreender o mundo como ele funciona, como também prejudicamos justamente quem mais precisa de proteção. Direitos são importantes, sim. Mas não são mágicos. Eles exigem recursos, escolhas, renúncias. Fingir que não têm custo não os fortalece — apenas os torna inacessíveis para a maioria.
A própria formulação da pergunta “os direitos têm custo?” soa ofensiva a muitos juristas. Como ousar colocar preço na dignidade da pessoa humana, no acesso à saúde, à moradia, à Justiça? A reação quase automática é: esses direitos precisam ser garantidos a todo custo. Mas, na prática, esse “a todo custo” termina cedo demais. Para boa parte do mundo jurídico, garantir um direito é incluí-lo na Constituição, regulamentá-lo em uma lei, ou reconhecê-lo em uma decisão judicial. Raramente se vai além disso — talvez porque, no mundo real, muitas vezes não se pode ir além.
E, no mundo real, direitos não se acumulam sem custo. Garantir um direito fundamental quase sempre significa restringir outro. E, muitas vezes, o mesmo direito que hoje se protege pode se tornar o primeiro a ser sacrificado amanhã. É esse movimento circular, que já chamei outras vezes de efeito bumerangue, que nos mostra o quanto é arriscado ignorar os limites da realidade. Vejamos alguns exemplos.
O primeiro está na saúde. Em nome do direito à vida e ao tratamento adequado, juízes determinam que planos de saúde cubram procedimentos não previstos em contrato nem autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). À primeira vista, parece justo: como negar um tratamento que pode salvar uma vida? Mas o efeito bumerangue vem logo depois. Para cobrir aqueles procedimentos, os planos ficam mais caros. Cada vez menos pessoas conseguem pagar. Há uma migração em massa para o SUS, que já opera sobrecarregado. E, no fim, o acesso à saúde piora para todos — especialmente para quem mais depende do sistema público.
O segundo exemplo vem do mercado de trabalho. Em nome da dignidade do trabalhador, magistrados têm reconhecido vínculo empregatício entre motoristas e entregadores de aplicativos e as plataformas digitais. O tema encontra-se no Supremo Tribunal Federal. Se o vínculo for confirmado, o custo para as empresas aumentará — e, como reação, elas reduzirão postos de trabalho. Haverá menos vagas, menos renda e perda de flexibilidade para os trabalhadores. A intenção era proteger, mas o resultado será a precarização – aquilo que justamente se pretendia combater, pelo menos no discurso. Não é ser um “cavaleiro do apocalipse”, é fazer uma análise econômica simples de incentivos, reações e consequências.
O terceiro exemplo é estrutural: o acesso à Justiça. No Brasil, esse direito é considerado intocável. Mas há uma confusão perigosa entre “acesso à Justiça” e “acesso ao Judiciário”. A crença de que só juízes são capazes de resolver os conflitos sociais levou à construção de um sistema onde litigar é fácil, e freios quase não existem. O resultado? Temos mais de 84 milhões de processos em andamento. Provavelmente, o Judiciário mais abarrotado — e, por consequência direta, um dos mais lentos — do mundo (precisa desenhar para entender a relação?). Um processo simples pode levar de três a cinco anos para ser resolvido. E isso quando não se arrasta por muito mais tempo.
Ainda assim, muitos juristas dormem tranquilos, convencidos de que os direitos estão garantidos. Mas a realidade é outra: para quem vive com o salário médio brasileiro, recorrer ao Judiciário não é uma opção real. A Justiça “gratuita” só parece gratuita porque não contabiliza o tempo, a energia e a desistência que ela impõe. E não considera que juízes e servidores, por óbvio, continuam recebendo seus salários para trabalhar nesses processos (gratuita certamente não é.)
Manter um processo judicial exige mais do que custas e advogados. Exige tempo, disposição, ausência de alternativas melhores. Para os mais pobres, o Judiciário não é um caminho — é uma barreira. Frequentemente, o único recurso viável é desistir. Aceitar a perda. Engolir o prejuízo. E ainda ouvir que seus direitos estão “garantidos”.
Seguimos alimentando a ilusão de que basta declarar um direito para que ele se realize. Acreditamos viver em um país justo porque temos um texto constitucional generoso. Mas, no fundo, só os mais privilegiados conseguem acessar, de fato, esses direitos. Porque os direitos têm custos — e poucos podem pagar por eles. Quem não pode, segue à margem, ouvindo falar de um mundo ideal que nunca será o seu.
Enquanto fingirmos que os direitos não têm custo, seguiremos abandonando quem mais precisa deles. Continuaremos a produzir políticas e decisões jurídicas que ignoram as limitações materiais do país. A realidade brasileira — com sua desigualdade persistente e sua precariedade institucional — é a prova mais concreta de que os direitos têm custo. E um custo bastante alto. Negar isso é perpetuar exclusões.
A pergunta que precisamos fazer, com honestidade e coragem, não é se os direitos têm custo. É: como podemos garantir que os mais pobres também possam adquiri-los? Certamente não é prometendo um mundo ideal e ilusório de que tudo se pode ter, e nem fingindo acreditar que os direitos não têm custos.
Luciana Yeung é Professora Associada I e Coordenadora do Núcleo de Análise Econômica do Direito do Insper. Membro-fundadora e ex-presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia (ABDE), Diretora da Associação Latino-americana de Direito e Economia (ABDE), Diretora da Associação Latino-americana de Direito e Economia (ALACDE). Pesquisadora-visitante no Institute of Law and Economics, da Universidade de Hamburgo (Alemanha). Autora de “O Judiciário Brasileiro – uma análise empírica e econômica”, “Introdução à Análise Econômica do Direito” (juntamente com Bradson Camelo) e “Análise Econômica do Direito: Temas Contemporâneos” (coord.), além de dezenas de outras publicações, todos na área do Direito & Economia.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO