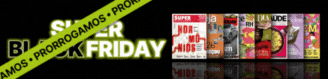Parada no tempo
A Justiça do Trabalho precisa decidir se quer evoluir junto com o mundo ou continuar sendo um obstáculo às novas formas de trabalhar e viver

(Disclaimer: Antes de começar, quero deixar claro que o texto abaixo faz uma generalização do que seja a atual Justiça do Trabalho brasileira. Claro que existem magistrados(as) que não pensam e nem agem da maneira descrita abaixo. Mas, infelizmente, eles ainda são a minoria. A generalização feita no texto está longe de ser injusta.)
Enquanto o mundo gira em ritmo acelerado, transformando o jeito como trabalhamos, consumimos e nos relacionamos com as empresas, a Justiça do Trabalho brasileira está parada nos anos 1940 — quando a CLT foi criada. Vive num mundo em que o trabalho era marcado por operários em fábricas, grandes indústrias de base, chefes com relógio de ponto e empregos vitalícios. Naquele mundo, não se conhecem a real utilidade dos computadores, não existem franquias (apesar delas existirem mundo afora desde o século XVII, pelo menos), muito menos há fenômenos como aplicativos, home office e startups. Naquele mundo, não se sabe que é possível ganhar a vida dirigindo para desconhecidos em um carro próprio, vendendo doces pelo Instagram ou sendo dona de uma microfranquia sem sair de casa. Infelizmente, o que temos é um Judiciário trabalhista tentando forçar o mundo do trabalho atual dentro de categorias jurídicas obsoletas e enferrujadas, tal como quem tenta calçar um pé moderno em uma bota apertada e rachada de 1943.
Um exemplo claro é a insistência em reconhecer vínculo empregatício entre franqueados e franqueadoras, mesmo quando a Lei de Franquias de 2019 afirma expressamente que não há esse vínculo. Em julgados recentes, mesmo franqueados que faturam dezenas de milhares de reais por mês foram considerados “hipossuficientes” e enquadrados como empregados. O que leva a isso? Uma resistência cultural e jurídica em aceitar que há novas formas legítimas de empreender — inclusive individuais. Aliás, a Justiça do Trabalho não concebe a ideia de que exista empreendedorismo que não seja a do grande capital, normalmente multinacional, sempre explorador e opressor.
A “pejotização”, outra pedra no sapato da Justiça do Trabalho, é frequentemente vista com desconfiança. Ainda que médicos, advogados, jornalistas, engenheiros e cabeleireiros atuem há décadas como pessoas jurídicas, muitos juízes se recusam a reconhecer essa autonomia quando o contrato envolve setores menos tradicionais ou economicamente mais frágeis. O resultado é a criação de um ambiente de incerteza para empresas e trabalhadores, ambos sem saber o que esperar de uma eventual ação judicial.
Finalmente, e só para ficar em um número reduzido de exemplos, temos a longa (e cansativa) discussão para definir a natureza das relações de trabalho criadas pelas plataformas digitais, como Uber, iFood, Rappi e Mercado Livre. Difícil, quase impossível, explicar aos magistrados trabalhistas que essas empresas não contratam motoristas ou entregadores, mas oferecem a tecnologia que conecta quem quer prestar um serviço com quem precisa dele. Vejamos a nossa volta e perguntemos: quantos milhões de pessoas, só no Brasil, estão tendo renda garantida e vida melhor graças a essas plataformas? Mas não. A Justiça do Trabalho enxerga essas empresas como “vilãs”, como “capitalistas exploradoras” e tenta forçar o novíssimo modelo de atividade econômica dentro do molde de uma relação empregatícia arcaica — como se estivéssemos falando de um chão de fábrica do século XX (e os magistrados de fato consideram que é a mesma coisa).
Essa dificuldade de adaptação gera um efeito nefasto: prejudica exatamente quem mais precisa de renda e trabalho. Ao tentar “salvar” determinados trabalhadores de modelos novos, tenta-se destruir o próprio modelo — o que extinguiria empregos, oportunidades e renda de milhões. Em outras oportunidades, já chamei isso de “efeito bumerangue”: a boa intenção dos magistrados que gera exatamente o resultado oposto, avassalador.
E nem a Reforma Trabalhista de 2017 escapou da resistência. Antes mesmo de entrar em vigor, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas já havia declarado publicamente que não seguiria as novas regras. Era uma nova lei, aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Executivo, com respaldo democrático. Mas parte considerável do Judiciário trabalhista simplesmente afirmou que não aplicaria as normas, por não concordar com elas. É uma inversão perigosa de papéis: juízes não estão acima da lei e não deveriam decidir com base em crenças pessoais.
Esse cenário nos coloca diante de uma escolha importante: queremos uma Justiça do Trabalho que abrace a transformação do mundo ou que siga presa a um passado que já não existe? É claro que toda mudança precisa considerar direitos e proteger quem mais precisa. Mas efetivamente não é isso o que está em jogo (muito pelo contrário!)
O mundo mudou, o Brasil mudou — e as mudanças vão continuar. Cabe à Justiça do Trabalho decidir se quer evoluir junto ou continuar sendo um obstáculo às novas formas de trabalhar e viver. Hoje, o maior temor dos magistrados trabalhistas é o chamado “esvaziamento da Justiça do Trabalho”: o receio de que muitos temas deixem de ser de sua competência e passem para a Justiça comum ou sejam resolvidos diretamente pelo STF. Soma-se a isso o constante discurso de vitimização, em que se acusam outras instâncias — especialmente o Supremo — de estarem “revertendo” suas decisões. Mas o que isso realmente revela é que os demais ramos da Justiça, e o STF em especial, já perceberam que a Justiça do Trabalho está ultrapassada, mal adaptada às novas realidades econômicas e sociais. Em vez de se colocar no papel de vítima, seria mais digno e construtivo que a Justiça Trabalhista refletisse sobre qual papel quer continuar desempenhando. Caso contrário, será inevitavelmente substituída — seja por outras Justiças, seja por novos mecanismos de resolução de conflitos que, querendo os juízes ou não, vão surgir e serão preferidos exatamente por estarem mais afinados com os tempos em que vivemos.
Luciana Yeung é Professora Associada e Coordenadora do Núcleo de Análise Econômica do Direito do Insper. Membro-fundadora e ex-presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia (ABDE), Diretora da Associação Latino-americana de Direito e Economia (ABDE), Diretora da Associação Latino-americana de Direito e Economia (ALACDE). Pesquisadora-visitante no Law and Economics Foundation na Universidade de St Gällen (Suíça) e no Institute of Law and Economics, da Universidade de Hamburgo (Alemanha). Autora de “O Judiciário Brasileiro – uma análise empírica e econômica”, “Curso de Análise Econômica do Direito” (juntamente com Bradson Camelo) e “Análise Econômica do Direito: Temas Contemporâneos” (coord.), além de dezenas de outras publicações, todos na área do Direito & Economia.



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO
 Nordeste garante R$ 113 bilhões para projetos industriais dos 9 estados
Nordeste garante R$ 113 bilhões para projetos industriais dos 9 estados Pesquisa: Dobradinha do PL lidera corrida para o Senado pelo Rio de Janeiro
Pesquisa: Dobradinha do PL lidera corrida para o Senado pelo Rio de Janeiro PF deflagra operação contra a divulgação de vídeos de abuso sexual infantojuvenil
PF deflagra operação contra a divulgação de vídeos de abuso sexual infantojuvenil Mailson Marques, direto de MG: O drama da família da garota assassinada em Uberaba
Mailson Marques, direto de MG: O drama da família da garota assassinada em Uberaba Será? Miley Cyrus dá pista de casamento com reluzente ‘anel de noivado’
Será? Miley Cyrus dá pista de casamento com reluzente ‘anel de noivado’