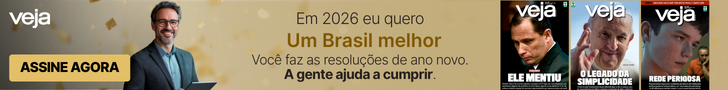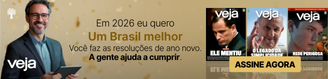Protecionismo disfarçado e a armadilha da inovação
Os Estados Unidos, que eram o baluarte do livre-comércio, passam mensagens ruins ao mundo

As decisões recentes dos Estados Unidos de elevar as tarifas sobre a importação de veículos elétricos chineses para até 100% — e de reforçar a taxação em outros setores como baterias, semicondutores e painéis solares — foram anunciadas como um gesto de defesa econômica e soberania tecnológica. Mas, por trás da retórica do embate entre democracias e autocracias, o que se vê é a volta silenciosa de uma velha conhecida: a política industrial disfarçada de guerra tarifária.
Historicamente, políticas industriais envolvem instrumentos como subsídios, incentivos fiscais ou proteção tarifária a setores estratégicos, com o objetivo de estimular a produção local, gerar empregos e preservar capacidades tecnológicas – o Brasil conheceu bem essa estória, em seu episódio da Política de Substituição de Importações nos anos 1960. O problema é que, ao longo do tempo, acumulamos evidências, inclusive no caso brasileiro, de que esse tipo de intervenção falha — especialmente quando se transforma em proteção permanente a setores ineficientes, capturados por lobbies ou descolados da fronteira tecnológica.
Com o novo pacote tarifário, os Estados Unidos parecem ter adotado uma estratégia “abreviada” de política industrial: em vez de desenhar programas sofisticados de fomento, bastou recorrer ao velho método da tarifa — simples, unilateral e de execução imediata. A ideia é proteger empresas americanas da concorrência agressiva da China, especialmente em setores considerados estratégicos para a transição energética e a disputa geopolítica.
O que não se diz abertamente, porém, é que as tarifas cumprem um papel muito parecido com o de um subsídio reverso no quesito de manutenção da falta de competitividade: elas elevam artificialmente o preço do concorrente e, assim, criam margem para que empresas locais continuem operando mesmo se forem tecnologicamente inferiores ou menos eficientes. Em outras palavras, trata-se de uma proteção com nome novo, mas efeitos antigos.
Em um primeiro momento, isso pode parecer vantajoso. Afinal, as tarifas dão fôlego às empresas locais, reduzem a pressão competitiva imediata e geram uma sensação de soberania produtiva. Mas esse alívio de curto prazo tem um custo — e ele costuma recair sobre a inovação. Ao proteger indústrias já estabelecidas da concorrência, o sistema reduz os incentivos para investir em pesquisa, eficiência e novas tecnologias. Novamente, a política brasileira de proteção à indústria de informática, por décadas, ensinou-nos uma amarga lição.
No caso dos Estados Unidos, o argumento da “concorrência desleal” por parte da China tem algum fundamento, sobretudo diante de subsídios estatais opacos e regras ambientais flexíveis. Mas a resposta ideal, do ponto de vista da teoria econômica, seria fortalecer mecanismos multilaterais de disputa, criar incentivos internos à inovação e fomentar alianças produtivas com países parceiros. Em vez disso, o que se vê é uma estratégia de isolamento tarifário, que pode acabar se voltando contra os próprios interesses dos países que a iniciam.
Há outra faceta pouco discutida, pois refere-se a efeitos para além dos “puramente econômicos”. Esse movimento cria também um problema jurídico global: ao substituir as regras da Organização Mundial do Comércio por decisões unilaterais baseadas em critérios políticos, os Estados Unidos contribuem para a erosão de um sistema já fragilizado. Se o maior defensor histórico do livre comércio passa a utilizar tarifas como instrumento recorrente de política doméstica, que mensagem se envia ao resto do mundo?
Além disso, as tarifas introduzem incerteza sistêmica. Elas podem ser alteradas por decisões executivas, de algum burocrata em seu escritório, com base em supostas “análises técnicas” (que geralmente não são), mas sem se preocupar com a coordenação internacional, o que aumenta os custos de transação para empresas, desorganiza cadeias globais de valor e afeta decisões de investimento de longo prazo. É um movimento que mina a previsibilidade, algo essencial a qualquer relação econômica, mas sobretudo às relações comerciais globais.
No fundo, as tarifas tornaram-se uma forma rápida de agir quando os canais tradicionais — como políticas industriais explícitas ou reformas regulatórias — são politicamente custosos ou demorados. São uma resposta de curto prazo para um problema estrutural e complexo.
Apesar dos holofotes nas últimas semanas estarem concentrados na América do Norte, nada disso é exclusivo dos EUA. A União Europeia também, faz tempo, tem se movimentado em direção a mecanismos similares, e a China, claro, faz o mesmo, também já há algum tempo. O jogo virou um ciclo de retaliações e contrarretaliações em que todos perdem um pouco — e ninguém sabe exatamente como parar. A já chamada “guerra tarifária” só potencializada tudo isso.
A nova escalada dos movimentos nessa direção deve ser compreendida, portanto, menos como uma guerra comercial e mais como um diagnóstico das limitações das democracias em implementar reformas produtivas de longo prazo. É mais fácil declarar uma tarifa do que construir um ecossistema de inovação competitivo, ou uma mesa de negociações comerciais diplomáticas e saudáveis.
No final das contas, ninguém sabe ao certo qual será o desfecho desse processo. Há alguns que acreditam que as consequências ainda podem ser benignas, com acordos pontuais e ganhos de produtividade. Mas o que parece provável é que ocorra um ciclo vicioso de protecionismo, ineficiência e instabilidade institucional. Só o tempo – turbulento com certeza – dirá.
*Luciana Yeung é Professora Associada I e Coordenadora do Núcleo de Análise Econômica do Direito do Insper. Membro-fundadora e ex-presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia (ABDE), Diretora da Associação Latino-americana de Direito e Economia (ABDE), Diretora da Associação Latino-americana de Direito e Economia (ALACDE). Pesquisadora-visitante no Institute of Law and Economics, da Universidade de Hamburgo (Alemanha). Autora de “O Judiciário Brasileiro – uma análise empírica e econômica”, “Introdução à Análise Econômica do Direito” (juntamente com Bradson Camelo) e “Análise Econômica do Direito: Temas Contemporâneos” (coord.), além de dezenas de outras publicações, todos na área do Direito & Economia.



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO