O dever da memória da autora que sobreviveu ao genocídio de Ruanda
Scholastique Mukasonga fala a VEJA sobre o uso da literatura como necessidade de manter viva a história da família: 'Tinha medo de ficar louca e esquecer'

Quando passou pela primeira vez pelo Brasil, durante a Flip de 2017, a escritora ruandesa Scholastique Mukasonga, 62 anos, arrancou algumas lágrimas de emoção da plateia que a assistia em Paraty. Na época, ela lançava por aqui os livros A Mulher de Pés Descalços e Nossa Senhora do Nilo, ambos pela editora Nós. No primeiro, destaque na mesa que falava sobre memória e maternidade, ela narra de forma poética a rotina de sua mãe na missão de manter viva a cultura familiar e ensinar aos filhos técnicas de fuga e sobrevivência, isso décadas antes do genocídio de 1994 em Ruanda — uma tragédia iminente que, como ressalta Scholastique, a comunidade internacional preferiu fechar os olhos para não ver. Até que não deu mais para ignorar.
Scholastique e um irmão mais velho foram os únicos sobreviventes da família, salvos justamente pela luta da mãe que os fez atravessar fronteiras em fuga, buscando por asilo em países vizinhos. Em 1992, ela estava na França, sua casa até hoje, quando soube do genocídio que limou em cem dias mais de 800.000 vidas da etnia tutsi pelas mãos dos hutus. “Eu comecei a escrever porque eu estava em pânico, percebi que era das poucas sobreviventes, tinha medo que tudo se apagasse em minha cabeça. Tinha medo de ficar louca e não saber mais do que tinha acontecido. Era preciso que eu deixasse a memória do que foi a minha vila e o meu povo para as minhas crianças e para o mundo”, conta em entrevista a VEJA.
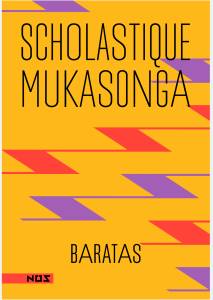
Embora o tema esteja presente em toda a sua obra, o primeiro livro Baratas (Tradução: Elisa Nazarian, Editora Nós, 180 páginas), que chegou recentemente ao Brasil, é uma tentativa de reconstituir os detalhes de sua vila, destroçada, e relembrar nomes das pessoas que não puderam sequer ter uma lápide. Nas últimas páginas, ela diz estar escrevendo um “cemitério de papel”. A obra foi originalmente publicada em 2006 pelas Gallimard, uma das maiores editoras francesas.
Em sua segunda visita ao Brasil, na semana passada, a escritora contou sua história em uma agenda cheia e diversa: da Feira do Livro de Porto Alegre ao Festival Mulheres do Mundo, no Rio, ela esteve em São Paulo para falar da literatura como lugar de resistência em evento organizado pela Aliança Francesa. Durante a viagem, a autora recebeu VEJA em um hotel no centro da capital paulista e falou sobre a arte de escrever, o dever da memória, sua indignação com o silêncio ante o genocídio e a demora de uma comoção mundial.
Confira:
Seu primeiro livro, Baratas, foi lançado em 2006 na França e chegou neste ano às livrarias brasileiras. Quando você decidiu escrevê-lo? Foi um livro que eu quis escrever desde que eu soube do genocídio, em 7 de abril de 1994. Quando aconteceu o massacre eu estava em pânico, como Primo Levi (autor italiano sobrevivente de Auschwitz, que narrou os horrores do Holocausto), porque já havia sido deportada há muito tempo, como outros tutsis. Eu morava na França desde 1992, e descobri como todo mundo: pela televisão. Naquele momento eu percebi que meus pais haviam me escolhido, em 1973, para que eu fosse nossa memória. Em 1994, foi quando eu percebi que era o genocídio do meu povo e que o termo massacre que usavam não era correto. Então eu comecei a escrever porque eu estava em pânico, percebi que era das poucas sobreviventes, tinha medo que tudo se apagasse em minha cabeça. Principalmente o nome das pessoas. Tinha medo de ficar louca e não saber mais do que tinha acontecido. Era preciso que eu deixasse a memória do que foi a minha vila e o meu povo para as minhas crianças e para o mundo.
Comecei a escrever porque eu estava em pânico, percebi que era das poucas sobreviventes. Tinha medo de ficar louca e não saber mais do que tinha acontecido.
Scholastique Mukasonga, escritora
Você quis voltar para Ruanda após a reconciliação? Não quis voltar, mesmo quando não havia mais problemas. Era preciso que ruandeses reconstruíssem o país. Eu não consegui, enlouqueceria se voltasse para Ruanda sem todas as pessoas que eu conhecia. Depois que eu coloquei no papel, consegui voltar, em 2003. Na capital, Kigali, já não havia mais nenhum traço do genocídio. Mas na minha cidade, Nyamata, não havia mais nada, nada. Tudo foi coberto pela brousse (vegetação típica da savana). Nenhum traço de nossa existência, e lá viveram 60.000 pessoas. Quando voltei, organizei meus manuscritos e trabalhei para que tivesse uma qualidade literária, para que aceitassem sua publicação. Foi em julho de 2005 que eu decidi enviar, escolhi uma editora ao acaso, minha única preocupação era que fosse publicado e minha história fosse conhecida pela comunidade internacional. Não escrevi sobre o genocídio, mas sobre como tudo começou. Esse foi o único livro que demorei muito para escrever, e o único que escrevi porque precisava ser escrito.
Você é assistente social. Não tinha ambição de ser escritora? Não, a literatura não fazia parte de meu projeto de vida. Se não houvesse o massacre, eu não teria me tornado escritora. Me tornei escritora pelo dever da memória.
No livro Baratas, você cita que o massacre tutsi era ignorado pela comunidade internacional e, nos primeiros anos de ataques, a única exceção a isso foi o filósofo Bertrand Russell. Nos anos 1960, ele (Russell) atravessou Ruanda e foi testemunha dos massacres de 1963. Ele já havia visto o genocídio. Demorou para sensibilizar a comunidade internacional, ele não foi ouvido. Acho que essa sensibilização nunca aconteceu como deveria, não. Nós nos resignamos. Quando começaram a nos cortar como árvores, foi sob os olhos de todo mundo e ninguém reagiu. Os estrangeiros que estavam em Ruanda, ocidentais, pegaram aviões e fugiram para não ver o que estava acontecendo. Levaram até seus cachorros nos aviões. Mulheres que trabalhavam na casa desses ocidentais, mães desesperadas que confiavam em seus patrões, correram atrás deles até o aeroporto, imploravam para que levassem seus filhos. Eles levaram seus cachorros, mas não salvaram crianças. Nesse momento, percebemos que a comunidade internacional não mexeria um dedo para salvar uma “barata” (como o povo tutsi era chamado por seu algoz, os hutus).
Quando você percebeu que a comunidade internacional foi, de fato, sensibilizada? Demoraram muito tempo para falar do genocídio dos tutsi. Acho que isso mudou um pouco quando Nicolas Sarkozy visitou Ruanda (em 2010). Foi o primeiro presidente francês a visitar o país. Nós esperávamos muito dele. Sabemos que é comum na política, mas ao menos alguma palavra reconfortante seria um começo. E foi só a partir desse momento que os franceses, que os jornalistas, começaram a falar do genocídio. Isso, para mim, me deu forças para voltar a Ruanda. Isso significou que finalmente éramos vistos como humanos e não como baratas. Por 5, 6 anos após o genocídio, o silêncio ainda era completo. Nós continuávamos em nosso mal-estar e miséria. Até hoje, não conseguimos nos perguntar por que aconteceu tudo isso, pois não temos respostas.
Quando começaram a nos cortar como árvores, foi sob os olhos de todo mundo e ninguém reagiu. Os estrangeiros que estavam em Ruanda pegaram aviões e fugiram para não ver o que estava acontecendo. Mulheres que trabalhavam na casa desses ocidentais imploravam para que levassem seus filhos. Eles levaram seus cachorros, mas não salvaram crianças.
Scholastique Mukasonga, escritora
Como é viver hoje na França, um país que era aliado do povo hutu antes de 1994 e a que é atribuído um papel de cumplicidade com o massacre? Eu não quero falar de um país e não de outro. Foi a comunidade internacional como um todo. Ruanda é um país aberto, tinha embaixadas de muitos países. Eu não posso julgar um país especificamente, foi a comunidade internacional que teve sua parte de responsabilidade com o que nos aconteceu. Sobre viver na França… Sabe quando as coisas são graves, profundamente graves? Fomos dois que escaparam de nossa família, porque nossos pais disseram: “não queremos que todos morram.” Eles queriam que houvesse memória da família. Tiveram que escolher dois filhos. Meu irmão André e eu pudemos ser a exceção, pois aprendemos uma língua internacional, o francês. A partir daquilo, decidiram que nós partiríamos. E disseram que nós tínhamos o dever de viver, não tínhamos direito de cair no caminho de fuga.
Como foi sua fuga e sua integração na França? Fomos primeiro para o país vizinho, o Burundi. E fizemos tudo isso a pé, e precisávamos ser rápidos para não sermos vistos durante o dia, caminhávamos no cair da noite. Em Nyamata, vimos o ódio e a discriminação, mas fomos formados a ter apenas um pensamento: nos salvar. Não era possível ser a fragilzinha. Eu tinha 15 anos, André tinha 22 anos e tinha responsabilidade sobre mim. Quando cheguei, eu era apátrida, não tinha sequer um documento de identidade. A primeira carteira de identidade em minhas mãos foi a francesa, que me deram no Burundi. Depois fui para o Djibuti, e de lá para a França. A única diferença é que o diploma de assistente social que conquistei no Burundi não tinha validade alguma na França. Foi muito difícil conseguir aquele diploma no exílio. Acho que foi aí que vi a discriminação, com os franceses me dizendo que meu diploma não valia nada e o que deveria virar faxineira, e só.
Como ‘driblou’ o destino de ser imigrante faxineira e se tornou assistente social e escritora? Na época, eu me desesperei, era a sobrevivente da família, tinha que salvar nossas memórias, não podia ficar varrendo casas! Eles tentaram me convencer de que seria bom, que eu teria um salário, mas estudei em uma escola de elite para mulheres na África, que formava pessoas que tinham ambições políticas. Disseram que eu não tinha chance de exercer a profissão na França, que tinha que fazer um concurso e não tinha o nível necessário, acreditavam que eu não conseguiria escrever em francês… Talvez tenha sido aí que eu decidi me tornar escritora. Resolvi escrever ao Ministro de Relações Exteriores, apresentar a minha situação e ver o que ele tinha a me dizer. Já tinha qualidade literária, viu? Escrevi uma carta que convenceu o ministro! (risos). Ele abriu uma exceção e pude realizar o concurso para entrar na faculdade de Assistência Social, e aí eu passei na prova com distinção (risos). Depois de conseguir outro diploma, fui até o doutorado. Então não foi difícil minha integração na França, graças também à minha profissão de assistente social. Mas isso não caiu no meu colo. É como meus pais me diziam: “você vai ter que lutar para conquistar seu lugar. As coisas não virão até você, você terá que ir até elas”
Você tem dois filhos. Como contou para eles o que aconteceu em Ruanda? Foi espontâneo, quando eram mais velhos. Vivi sempre com a missão de sobreviver e salvar o que poderia salvar. Quis protegê-los da identidade tutsi. Eles nasceram no Burundi e meu marido, que é francês, e eu convivíamos com um grupo de ruandeses que viviam no país. Gostávamos de encontrá-los, relembrar nossas histórias e notícias sobre nossas famílias. Nunca levávamos as crianças conosco.
Como foi seu reencontro com hutus em Ruanda, quando retornou ao país em 2004? A grande maioria dos ruandeses no Burundi eram tutsis. Ruanda foi um país colonizado por alemães, e, depois do fim da II Guerra Mundial, por belgas. Nos anos 1930, eles instituíram a carta de identificação étnica. Esse pequeno papel, infelizmente, foi a origem do genocídio. E isso havia acabado em 2004, pois a carta foi erradicada. O genocídio aconteceu entre abril e julho de 1994. Foi no dia 4 de julho que pararam com o genocídio. Durante as negociações de paz, a primeira medida foi acabar com a carta de identidade. Isso acabou com a divisão e todos se tornaram ruandeses. Todos falavam a mesma língua, então era aquele pequeno papel que os dividia. A grande diferença entre tutsis e hutus era sua atividade. Nos éramos pastores e os hutus, agricultores. Com isso, e com o tribunal Gacaca (pronuncia-se “Gatchatcha”; sistema de justiça comunitária baseado na tradição ruandesa), pôde haver uma reconciliação. Também porque ela aconteceu a pedido das vítimas que queriam encontrar os corpos de seus familiares, muitas vezes enterrados em fossas sanitárias, e conseguir um enterro digno para os seus e poder fazer seu luto. Os ruandeses são voltados ao trabalho. Conseguimos a reconciliação e trabalhamos para reconstruir o país.
Ruanda foi esquecida. Acho que é necessário intervir rapidamente para evitar que situações ruins transbordem. Quando os próprios países não são capazes de conter rupturas, é preciso que a comunidade internacional intervenha.
Scholastique Mukasonga, escritora
O que você pensa do intervencionismo internacional em países de terceiro mundo? Eu acho que Ruanda foi esquecida. Acho que é necessário intervir rapidamente para evitar que situações ruins transbordem. Quando os próprios países não são capazes de conter rupturas, é preciso que a comunidade internacional intervenha. Eu lamento que não tenham feito isso em Ruanda, porque houve um massacre que já acontecia antes do genocídio. Aqui, no Brasil, eu também lamento. Talvez a comunidade internacional devesse ter feito algo antes do segundo turno das eleições.
Acompanhou o processo eleitoral no Brasil? Sim. Eu não me sinto autorizada a falar sobre, mas me senti tocada profundamente, em minha carne, pelo assunto. Eu sei o que é sentir a cabeça quase explodindo e não conseguir refletir sobre situações que podem se tornar cada vez mais expressivas. Eu fui muito bem-recebida aqui, eu conheço a generosidade do povo brasileiro. Eu entendo como vocês se sentem. O que eu gostaria de dizer é para vocês não cederem ao pânico. Em um cenário assim, vocês terão que desenvolver uma energia que não tinham até então. É preciso não cair na aceitação. Eu desejo que cada brasileiro recuse o que vier para dividi-los e, a partir disso, tentem ser otimistas. Com certeza haverão perdas, mas é preciso ser forte, se salvar, salvar sua história, e se recusar à divisão.



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO




















