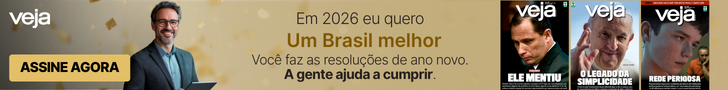A operação policial nos complexos do Alemão e da Penha não foi “mais um confronto” nem comporta a comparação pedestre com o ocorrido no Carandiru. Em São Paulo, tratou-se de um massacre dentro de um presídio, contra presos desarmados. No Rio de Janeiro, falamos de incursões em territórios dominados por facções, com criminosos fortemente armados que revidaram à ação do Estado. São naturezas distintas. Independentemente do total de mortes a ser confirmado, não há ocupação territorial de áreas sob controle do crime que seja pacífica — exigir isso seria confundir desejo com realidade.
Com suas virtudes e defeitos, a operação escancarou ao país a dimensão do poder paralelo: capacidade de paralisar bairros inteiros, impor toques de recolher, interromper aulas e serviços, pautar a rotina de quem mora e trabalha nas comunidades. É a materialização do que já se sabe, mas que o Brasil insiste em não encarar: há zonas aonde o Estado chega apenas em “expedições”, sem continuidade, sem presença capaz de substituir o domínio armado por normalidade institucional.
A cena expõe uma omissão prolongada das elites políticas e empresariais. Quem pode se protege com blindagem, segurança particular e tecnologia; quem não pode vive sob o império do medo. Enquanto isso, governos trocam acusações e terceirizam responsabilidades: estados falam em “narcoterrorismo” e cobram a União; a União cobra planejamento e integração. No meio desse empurra-empurra, quem manda é o crime — facções e milícias —, que se adapta, recompõe quadros e volta a ocupar os vazios deixados após cada operação.
“A fusão entre fuzil e planilha, milícia e sistema financeiro ilegal prospera à sombra do país paralisado”
A legislação existente é frágil e mostra um Estado arcaico diante de um crime violento e tecnológico. Há um ponto civilizatório que precisa ser dito: a segurança transcende diferenças ideológicas. À esquerda, que resiste a medidas mais duras, cabe olhar para os vulneráveis — os que não têm blindagem ou condomínio fechado. À direita, que empunha o discurso do “law and order”, cabe entender segurança como política de Estado, não como palanque. Sem essa convergência mínima, o debate degenera em tribalismo e o crime agradece.
A tragédia nas comunidades do Rio soma-se a um ambiente expandido de criminalidade econômica: crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro, venda ilegal de combustíveis, contrabando e controle do mercado de cigarros falsificados pelo crime organizado. É a fusão entre fuzil e planilha, milícia e sistema financeiro ilegal, que prospera à sombra de um país paralisado por dilemas institucionais e insegurança jurídica. Sem atacar essa economia subterrânea — suas redes financeiras e logísticas —, qualquer avanço policial será episódico.
Mesmo em países desenvolvidos, o crime continua sendo problema sério. A diferença é que sociedade, governos e agentes econômicos não são omissos: financiam prevenção baseada em evidências, cobram metas públicas, blindam fronteiras e estimulam coordenação entre polícias e Justiça. No Brasil, precisamos construir esse pacto prático e permanente — sem bravatas — para que a lei deixe de ser exceção e volte a ser regra no território nacional.
Publicado em VEJA de 31 de outubro de 2025, edição nº 2968



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO