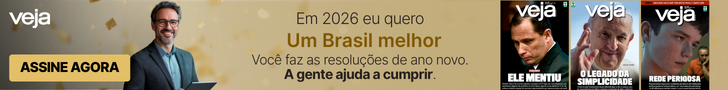Nos últimos tempos, a realidade tem solapado a ficção. Nem nos meus sonhos mais macabros, imaginei que veria a secretária de Cultura, Regina Duarte, minimizar a gravidade da tortura na ditadura militar, debochar das mortes crescentes por coronavírus e se esquivar de prestar homenagem aos grandes artistas que perdemos nesse período, como Rubem Fonseca, Luiz Alfredo Garcia-Roza, Sérgio Sant’Anna, Daisy Lúcidi, Moraes Moreira e Aldir Blanc.
Na verdade, o bizarro começou a imperar antes: nem meus devaneios mais sombrios foram capazes de pintar a possibilidade de um discurso como o feito pelo ex-secretário Roberto Alvim, num vídeo cafona e perigoso, com fala semelhante à de Goebbels, ministro da Propaganda de Adolf Hitler durante o governo nazista na Alemanha. E olha que escrevo histórias de terror! Se um roteirista criasse quaisquer desses cenários, sofreria críticas severas pela inverossimilhança. A realidade brasileira deixa O Conto da Aia no chinelo.
Daqui, tenho refletido sobre como tudo isso incide na ficção. Não tenho dúvidas de que o momento atual vai alterar nossa maneira de contar histórias. Que dramas continuam a ter pertinência? Que livros, filmes e séries serão feitos e consumidos no pós-pandemia? Que tipo de teledramaturgia o povo brasileiro vai querer ver? Não sei as respostas, é claro, mas tenho estudado cenários e possibilidades.
“Não tenho dúvidas de que o período em que vivemos vai alterar nossa maneira de contar histórias”
Curiosamente, na quarentena, venho lendo mais biografias e consumindo mais documentários, como se aceitasse resignadamente a derrota da ficção. Nos últimos anos, minhas séries favoritas têm sido todas documentais e contêm incômodas ressonâncias na realidade. De início, foi Making a Murderer, a história de um sujeito preso injustamente, revelando a corrupção das autoridades para alterar o rumo de investigações e encobrir crimes. Depois veio Wild Wild Country, sobre a força e os perigos do fanatismo, da opção cega por um líder supremo.
Nesta semana, devorei Tiger King, cujo protagonista é Joe Exotic, um colecionador de grandes felinos que entra em conflito com Carole Baskin, protetora de animais. Joe é egocêntrico, paranoico, vaidoso, amoral e, por isso, tão perigosamente imprevisível; sempre tem prazer de ver “o parquinho pegar fogo”. Em sua cafonice cruel, guarda estreitas semelhanças com nosso presidente. Joe Exotic é Jair Bolsonaro. Não à toa, em determinado episódio, Joe decide se candidatar a governador. Fosse hoje, era bem capaz de vencer. Parece até piada… de mau gosto, sem dúvida.
Qual é o futuro da ficção?, volto a perguntar. Acredito que o prazer de ler um bom suspense ou viajar numa aventura de ficção científica continuará a existir depois da pandemia. Mas, por enquanto, tenho a impressão de que Hollywood, a ótima nova série de Ryan Murphy para a Netflix, esteja mais próxima da resposta. Ao retratar os anos 40 na famosa indústria do cinema, Murphy imagina um cenário no qual gays, mulheres, negros e asiáticos têm voz e conseguem contar as próprias histórias. Uma “dreamland” para tornar tudo mais palatável. A realidade está simplesmente dura demais.
Publicado em VEJA de 20 de maio de 2020, edição nº 2687



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO