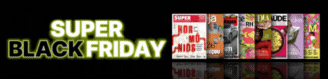Os enormes desafios de Gabriel Galípolo, novo presidente do Banco Central
Economista chega ao comando do BC com a dupla tarefa de enfrentar uma das mais agudas crises fiscais do país neste século e construir sua credibilidade

A missão de Gabriel Galípolo, o escolhido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a presidência do Banco Central a partir deste início de 2025, já não era simples. Apadrinhado de Lula, com um passado que se mistura aos quadros do Partido dos Trabalhadores e que inclui três livros publicados em que flutuou entre analisar e criticar os problemas do capitalismo, Galípolo sempre causou incômodo aos analistas e investidores do mercado financeiro. A despeito de ter passado o último ano inteiro, já como diretor de política monetária no BC, jurando que não é e nem será leniente com a inflação, o economista de 42 anos chega a uma das cadeiras mais importantes do poder no país ainda por comprovar aos desconfiados que terá o rigor técnico e a autonomia que o cargo requer — e sabendo que, quanto mais afaga um lado, mais aborrece o outro. Em publicação recente, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que “quem está desancorado da realidade é o BC”. O próprio Lula, depois de dois anos metralhando o agora ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, foi à televisão em dezembro dizer que a “única coisa errada nesse país são os juros”.

Equilibrar esses pratos na mesma bandeja já era complicado. Mas, em meio a uma debandada de capital, com o dólar em disparada, os juros subindo, nenhuma perspectiva de a inflação voltar para a meta e a dívida pública se encaminhando para novas alturas, Galípolo agora assume o Banco Central no que alguns já classificam como uma das situações mais difíceis para a política monetária brasileira do século XXI. “É o momento mais desafiador para um presidente do Banco Central desde as crises de 1999 e de 2002”, crava Sergio Werlang, assistente da presidência da Fundação Getulio Vargas. Werlang foi diretor do BC em 1999, quando a crise do câmbio fixo explodiu e a Selic chegou ao recorde de 45% anuais. Em 2002, a disparada aguda do dólar pelo temor à primeira eleição de Lula demandou outro choque radical de juros, que chegaram aos 26% ao ano enquanto a inflação escalava para os 17%. Agora é a dívida descontrolada que está gerando a crise de credibilidade. “A incerteza está alta em todo o mundo”, diz a vice-presidente da agência de classificação de riscos Moody’s, Samar Maziad. “Mas, no Brasil, com a volatilidade mais aguda e juros ainda mais altos do que em outros lugares, o impacto dessas incertezas é ainda mais severo.” Essa desorganização não prevista deve, de acordo com ela, atrasar a volta do país ao grau de investimento, sinalizada em outubro pela agência, mas condicionada a uma melhora que parece cada vez mais distante nas contas públicas brasileiras.

A crise explodiu no fim de novembro, quando o dólar, que começara o ano em 4,80 reais, passou dos 6 reais pela primeira vez e experimentou os 6,30. Foi uma resposta direta ao aguardado pacote de contenção de gastos anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas que, com medidas julgadas insuficientes para o tamanho do buraco, acabou tendo o efeito oposto e derrubou de vez o humor dos investidores. Ao mesmo tempo, há ainda a avaliação de que a economia está crescendo mais do que o país dá conta — retroalimentando a inflação — e de que a volta de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos deverá atrasar o corte dos juros por lá, um desafio adicional para Jerome Powell, presidente do Fed, o banco central americano. “O mercado também erra, mas a desancoragem fiscal virou uma crise de confiança”, diz Gabriel Leal de Barros, economista-chefe da gestora ARX. “Nesse contexto, o papel do BC é subir cada vez mais os juros e mostrar que tem independência.”

Foi exatamente o que fez o Banco Central. Na reunião de dezembro, o Comitê de Política Monetária, colegiado que reúne a diretoria da autarquia, decidiu elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual, de 11,25% para 12,25%. Só no choque de preços da pandemia, em 2021, e na crise cambial, em 2002, os juros básicos tinham subido tanto de uma vez só. E vão subir ainda mais: em outro expediente pouco comum, o Copom já deixou anunciados dois aumentos iguais, o que significa que, até março, a Selic terá voltado para surpreendentes 14,25% ao ano. É um nível que não se via desde a crise de 2015-2016 deixada pelo governo de Dilma Rousseff, quando a inflação passou dos 10%. Atualmente, a inflação flerta com os 5%, mas os montantes de gastos e de dívida mudaram completamente de patamar. São eles o núcleo de onde brota toda a desconfiança atual e que acabaram por dobrar o amargo trabalho do BC: elevar os juros não só para controlar os preços, mas também para convencer ao menos o capital especulativo a não sair do país. “Estamos com resultados fiscais dignos de guerra, recessão ou pandemia, mas a pandemia já acabou e não há nada que justifique um impulso fiscal desse tamanho”, diz Márcio Holland, professor da FGV e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Dilma.

A dívida pública, que estava em pouco mais de 50% do produto interno bruto no início da década passada, se aproxima hoje em dia dos 80%, e está crescendo. Trata-se de um grau de endividamento que só não é maior que o do auge da pandemia, em 2020, e que o Brasil não enfrentava desde as suas grandes crises de dívida do século XX, um passado que já tinha sido superado e que volta a agora a assombrar. É também uma trajetória rápida rumo ao que seria o limite de tolerância da dívida pública no Brasil, estimada em algo entre 80% e 90% pelos pesquisadores que se debruçam sobre o tema. “Não é um número exato de calcular, mas sabemos que é um limite bem mais baixo que o dos países desenvolvidos, que têm muito mais folga financeira”, afirma Rodrigo Pereira, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e que foi assessor no Ministério da Economia de Paulo Guedes. É o recorte aproximado a partir do qual a dívida toma desproporção tal que, se o governo não descamba de vez para um calote, entra ao menos em uma zona de desconfiança em que não consegue mais encontrar comprador para seus títulos e se vê obrigado a colocar juros cada vez mais altos sobre eles. E é, em boa medida, o que já está acontecendo.

É nesse ponto de insustentabilidade que a dívida pública, uma responsabilidade essencialmente do Ministério da Fazenda, se cruza com a vida de Gabriel Galípolo no Banco Central. “Enquanto não houver uma solução definitiva no quadro fiscal, os juros precisarão ser mais altos”, afirma Felipe Salto, especialista em contas públicas, economista-chefe da corretora Warren Investimentos e colega de longa data de Galípolo. “Mas, nos níveis para os quais os juros estão caminhando, a economia a ser feita pelo governo para reduzir a dívida tem de ser ainda maior, e em valores impraticáveis.” O resultado do coquetel explosivo de juros altos sobre uma dívida gigante é que os gastos do Estado brasileiro com pagamento de juros já passaram dos 7% do PIB e somam impressionantes 870 bilhões de reais por ano. A fatura equivale a cinco vezes o orçamento da Educação, mas serve apenas para engordar ainda mais a própria dívida.
Alguns analistas questionam se o dólar a 6 reais e juros rumo aos 15% não carregam uma dose de exagero do mercado financeiro. “Virou um mantra dizer que vivemos uma crise fiscal, mas isso não é inquestionável”, afirma Luiz Gonzaga Belluzzo, o economista de 82 anos que conheceu Galípolo ainda na universidade e para quem virou uma espécie de padrinho político e filosófico. “Mas o Gabriel é uma pessoa ampla, que vai chegar lá e considerar todas as questões envolvidas em suas decisões.” Pouco importa, contudo, qual é o grau de especulação do tamanho do problema que Galípolo terá pela frente. “Não há uma taxa de câmbio certa”, diz o ex-ministro Henrique Meirelles, que já esteve tanto no lugar de Galípolo, nos primeiros governos de Lula, quanto no de Haddad, na gestão de Michel Temer. “O câmbio apenas reflete a entrada e a saída de recursos, sendo que a decisão de ficar ou sair é de cada um.” É por isso que a solução, queira-se ou não, passa por acalmar os ânimos e retomar a credibilidade, como o próprio Lula fez na primeira vez que assumiu. “Ele se comprometeu e entregou superávit primário por todo o mandato”, lembra Meirelles. Agora, contudo, parece não haver disposição para isso, o que só tornará o trabalho de Gabriel Galípolo e seu time ainda mais árduo.
Publicado em VEJA de 3 de janeiro de 2025, edição nº 2925


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO