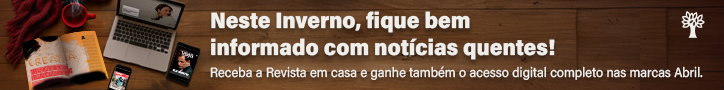Recados para a China marcaram viagem de Biden ao sul da Ásia
O tema das mensagens a Pequim foi um só: proximidade não resulta em aliança automática, e os Estados Unidos pretendem ampliar e apertar seus laços na região

Dando um tempo no foco exclusivo das relações externas na guerra entre Rússia e Ucrânia, o presidente americano Joe Biden reservou cinco dias de sua agenda para uma rápida mas significativa visita ao sul da Ásia — o pedaço do planeta mais vulnerável às pressões e tentações do gigante regional, a China. Foi uma viagem de recados a Pequim sobre um mesmo tema: proximidade não resulta em aliança automática, e os Estados Unidos, do outro lado do mundo, pretendem ampliar e apertar seus laços na região.
Com essa ideia na cabeça, Biden desembarcou em Seul falando de um assunto espinhoso — Taiwan, a ilha rebelde amparada pelo poderio americano que o governo chinês quer abocanhar de volta. Em coletiva, ouviu a pergunta: “O senhor não quis se envolver militarmente no conflito da Ucrânia. Faria isso para defender Taiwan?”. Resposta: “Sim”. O repórter insistiu: “Mesmo?”. Biden: “É o compromisso que temos”.
Sob perene ameaça de invasão, a ilha vive em suspenso há sete décadas — não é nem deixa de ser da China —, desde que, derrotado por Mao Tsé-tung, o então governo pró-Estados Unidos lá se instalou. Inaugurava-se a política de “ambiguidade estratégica”, pela qual Washington reconhece que Taiwan faz parte da China, mas é o guardião de sua democracia. O Departamento de Estado apressou-se a afirmar que Biden simplesmente reiterou posições já existentes. A visita a jato, no entanto, teve ambições que vão bem além da manutenção do regime da ilha. Ainda em Seul, Biden lançou um novo Sistema Econômico do Indo-Pacífico (Ipef, na sigla em inglês), que abrange uma extensão coalhada de ilhas nos oceanos Índico e Pacífico Central e Ocidental.
Formado por treze países, mas aberto a quem quiser aderir, o pacto promove a cooperação em questões de direitos trabalhistas, trocas comerciais, transporte e redes de suprimento — tudo em termos vagos, para não ter de passar pelo Senado americano e ser fragorosamente derrubado, como o amplo tratado econômico que Barack Obama negociou em seu tempo. “As ameaças de usar a força para deter as ambições da China deram lugar a uma estratégia de dissuasão envolvendo atores regionais”, diz Peter Harris, do instituto Defense Priorities.
De Seul, o presidente voou para o Japão, para o encontro inaugural de outra sigla novinha em folha: Quad, ou Diálogo de Segurança Quadrilateral, abrangendo Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão. Seu objetivo, de novo, é assegurar um “Indo-Pacífico livre e aberto”. O esforço de atrair a Ásia para uma coligação anti-China tropeça em uma infinidade de rixas locais, mas é imprescindível, visto que o governo chinês também espalha as asas por lá. Desde 2015, empresas chinesas compram e constroem portos e aeródromos na área, o que, se necessário, facilitaria ações militares. Um acordo de segurança recente com as Ilhas Salomão, a 3 000 quilômetros da costa australiana, amplia o espaço marítimo e aéreo sob influência de Pequim. Durante a visita de Biden, bombardeiros nucleares chineses sobrevoaram o Japão, em resposta aos recados americanos. Mal ele foi embora, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, partiu para uma viagem de dez dias a países-ilhas das redondezas, com um pacote de bondades que inclui cooperação em cibersegurança e bolsas de estudos. A disputa vai longe.
Publicado em VEJA de 1 de junho de 2022, edição nº 2791


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO