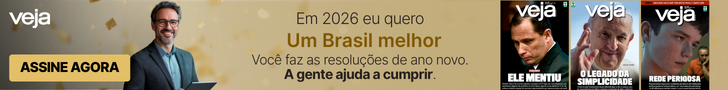Sem pátria, sem lar
Um acordo quis promover a volta dos refugiados rohingyas, minoria perseguida e massacrada em Mianmar. Mas esse drama humanitário está bem longe do fim

Quatro caminhões e três ônibus estacionaram na quinta-feira 15 no imenso campo de refugiados instalado em Bangladesh, próximo à fronteira com Mianmar (a antiga Birmânia). O propósito era transportar de volta para casa 150 integrantes da minoria muçulmana rohingya, a primeira leva de 2 000 “aprovados” pelo governo birmanês para retornar ao país desde a fuga em massa no ano passado. Os veículos esperaram à toa — nem um único refugiado apareceu para embarcar. Pelo contrário, quase todos os convocados sumiram do campo, escondendo-se em outros acampamentos e nas florestas próximas. “Eles não querem retornar”, admitiu no fim do dia Mohammad Abul Kalam, encarregado da questão dos refugiados em Bangladesh. Motivo da recusa: medo.
Bangladesh acomoda hoje mais de 700 000 rohingyas, do 1 milhão que vivia no norte do Estado de Rakhine, em Mianmar, até meados do ano passado. Um incidente em agosto, em que rebeldes muçulmanos atacaram postos de fronteira e mataram doze soldados birmaneses, elevou a temperatura de um conflito à beira da explosão e desencadeou um morticínio. Durante semanas, tropas militares e grupos de civis armados, recrutados entre a metade budista do estado, mataram milhares com tiros, facadas e em fogueiras em que os queimavam vivos, estupraram mulheres em bando, espancaram crianças e incendiaram vilarejos. Não há contagem segura de vítimas — a ONG Médicos sem Fronteira fala em quase 7 000. As Nações Unidas denunciaram o ocorrido como “limpeza étnica” e pediram o fim dos ataques. Os militares birmaneses alegaram que perseguiam “terroristas” e foram em frente. Há três meses, uma missão da ONU enviada para apurar os fatos qualificou a matança de “genocídio”.
Os rohingyas em fuga cruzaram a fronteira mais próxima, de Bangladesh, e lá permanecem até hoje, sem contar com muita boa vontade. Os campos situam-se em locais sujeitos a inundações e deslizamentos nas épocas de chuva. Há relatos de agentes circulando entre os refugiados e ameaçando cortar comida e restringir a circulação se eles não forem embora. A tentativa de retorno foi resultado de um acordo firmado entre os dois governos — “uma abordagem deficiente e de visão curta da crise humanitária”, segundo definiu a VEJA a professora de ciência política Engy Abdelkader, da Universidade Rutgers, de Nova Jersey. Pelo acordo, Mianmar compromete-se a instalar os rohingyas em casas “construídas para eles” (não as originais) desde que aceitem usar documentação de estrangeiros — condição inaceitável. Hoje apátridas, os rohingyas têm como uma das principais reivindicações ser incluídos na Lei de Cidadania, de 1982, que reconhece como birmaneses 135 grupos étnicos, mas não o deles.
Há registros da existência de uma comunidade islâmica no que é hoje Mianmar desde o século XV. Mas, para se fortalecer, o regime militar que comandou o país por cinco décadas insuflou uma rivalidade histórica entre esses muçulmanos e a maioria budista (88% da população). Oficialmente, os rohingyas (termo proibido no país) são “bengalis”, ou seja, originários de Bangladesh, e portanto não têm direito à cidadania e aos benefícios dos birmaneses. No domingo 18, o comissário para refugiados Mohammad Kalam, de Bangladesh, informou que a operação de retorno da minoria muçulmana para Mianmar foi adiada para 2019. Ou seja, tudo continua na mesma.
Publicado em VEJA de 28 de novembro de 2018, edição nº 2610