No fim dos anos 60, Samuel L. Jackson cursava biologia marinha em Atlanta quando foi arrebatado por novas vocações: o teatro e o ativismo político. Vivendo na cidade de Martin Luther King Jr., ele combinou o gosto pela arte com a luta antirracista em peças de temática social. Logo chamou a atenção de Spike Lee, um dos diretores mais posicionados em Hollywood sobre a questão negra. Versátil e boa-praça, Jackson não demorou a ser um nome requisitado. Conquistou fama com Pulp Fiction — Tempo de Violência (1994), primeiro filme da prolífica parceria com Quentin Tarantino. Fez Jurassic Park com Steven Spielberg e até ganhou um sabre de luz roxo exclusivo em Star Wars. O currículo de personagens imbatíveis chegou ao ápice com Nick Fury, o chefão dos heróis da Marvel. Não à toa, a imagem envelhecida do ator na série Os Últimos Dias de Ptolomeu Grey, da Apple TV+, choca. Nela, Jackson, aos 73 anos, vive um nonagenário que aceita uma cura temporária para a demência a fim de cumprir um acordo antigo e vingar a morte do sobrinho. Com olhar penetrante e sorridente, Jackson falou a VEJA sobre a série, afirmação racial e a trajetória que fez dele o ator mais rentável em bilheteria no mundo.
O senhor tem 73 anos e interpreta um homem senil de 91 na série Os Últimos Dias de Ptolomeu Grey. Envelhecer é algo que o assusta? Não, não tenho medo de envelhecer, estou me sentindo muito bem com a passagem dos anos. Claro, ainda não cheguei aos 90, então não sei como vai ser, se vou mudar de ideia. Quando me olhei no espelho, com o figurino e a maquiagem de um homem envelhecido, bateu um choque. Como ator, foi uma exploração muito prazerosa e complexa, pois nunca havia interpretado um personagem tão vulnerável. E, como produtor, fazia anos queria adaptar o livro que conta essa história, escrito por Walter Mosley. Sou fã de como ele conta histórias associadas às feridas americanas — e, tendo sido criado no Sul racista dos Estados Unidos, eu as entendo muito bem.
Sua filmografia é repleta de personagens poderosos, desde Mace Windu, um jedi da saga Star Wars, até tipos sanguinários em filmes de Quentin Tarantino e Nick Fury, da Marvel. Optou por privilegiar esses papéis na sua carreira por algum motivo específico? No fundo, todo mundo quer ser o cara todo-poderoso e eu não sou diferente. Me acostumei e aceitei o fato de que são esses personagens fortes que o público gosta de me ver interpretando. Para além dos que foram citados, que são os mais populares, eu fui escalado para diversos papéis de homens, digamos, empoderados que possuem uma força interna e com os quais me identifico, caso de Tempo de Matar (1996), no qual interpreto um pai que se vinga da violência sofrida pela filha, ou 187: o Código (1997), em que sou um professor que lida com alunos membros de gangues. Mas o que me atrai de fato não é a força física, muito menos a violência.
O que o atrai, afinal? É algo que vai além. Muitos dos personagens que eu aceito fazer possuem uma força de vontade indomável. Eles não são exatamente heroicos ou poderosos por algum motivo específico. Mas são pessoas que estão dispostas a encarar seja lá o que vier. É o que eu também venho fazendo ao longo da vida.
“Todo mundo quer ser o cara todo-poderoso e eu não sou diferente. Me acostumei e aceitei o fato de que são esses personagens fortes que o público gosta de me ver interpretando”
Como foi, então, assumir a faceta de uma pessoa com demência? Foi um papel que exigiu uma atuação física muito particular. Meu corpo precisava passar a mensagem de como aquele homem interpretava o mundo. Suas expressões, o olhar vazio, a confusão quando lhe cobravam uma memória que ele deveria ter, mas não a encontrava. O medo constante. Vale lembrar que ele não fica assim o tempo todo: o roteiro tem uma virada na qual aceita um tratamento para ficar curado por um tempo, antes de piorar drasticamente ou morrer. Uma troca que eu também faria no lugar dele.
Por que pensa assim? Minha mãe teve demência. Meu avô também teve, assim como um tio e duas tias. Então vivo cercado por esse fantasma. Me inspirei neles. Meu intuito ao assumir esse corpo tão deslocado é fazer com que o espectador da série se envolva com quem vive nessa situação e note a dificuldade e a impotência que é ser o familiar de alguém com demência. Amar alguém que não o reconhece é a sensação mais devastadora do mundo. Essa série foi um processo de cura com o meu passado e uma forma de honrar esses familiares.
A importância da memória é o fio condutor do roteiro. Hoje, com as redes sociais, ficaram patentes os muitos movimentos que tentam reescrever a história e negar feridas, como as do Holocausto e da escravidão de africanos. Como enxerga esse retrocesso? A memória é muito importante, mas nem sempre é confiável. Afinal, cada um de nós tem a sua versão de como algo aconteceu a partir de um ponto de vista e de uma experiência particulares. Quando eu era criança, gostava de ouvir pessoas mais velhas, os irmãos do meu avô e parentes de parentes para escutar a história oral. Saber o que eles passaram, suas experiências, e a de seus pais. Essas narrativas me ajudaram a saber quem eu era, de onde eu vinha, e como o mundo tinha mudado ou não com o passar do tempo. Assim eu soube o que não estavam me ensinando na escola ou nos jornais. Ao longo da vida, passei a ir além da informação que recebia. É preciso checar tudo. Pegar o que você ouviu, o que escreveram a respeito e tentar colocar as narrativas lado a lado para tirar suas conclusões. Só assim podemos encontrar algo perto da verdade.
O senhor esteve envolvido no movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, próximo a Martin Luther King Jr. Mais tarde, se tornou um dos poucos protagonistas negros em Hollywood — e hoje é o ator mais rentável da história, com filmes que arrecadaram 27 bilhões de dólares em bilheteria global. Como analisa essa trajetória singular e seu legado até aqui? Eu não sei se meu trabalho e ativismo tiveram de fato algum efeito em particular em Hollywood. Do fundo do coração, entretanto, eu realmente torço que sim. Espero que meu modo comprometido de trabalhar e as oportunidades que abracei tenham ajudado a abrir portas para jovens atores negros entrarem. Pois a oportunidade é a chave para alguém provar que tem valor, que é talentoso e hábil para o trabalho para além de sua cor. E, quem sabe, eu tenha inspirado alguém a pelo menos tentar chegar a um lugar de destaque em sua carreira. Eu não tinha um plano traçado. Ao embarcar nessa vida de ator, não almejei ser um exemplo. Mas gosto de pensar que a popularidade do meu rosto ajudou alguém da minha cor a ser contratado em algum lugar.
A série da Apple TV+, aliás, tem um elenco majoritariamente negro, o que não se vê com frequência. Isso foi algo que o atraiu no roteiro? Apesar de ser raro, para mim um elenco todo negro não é uma novidade. Afinal, eu fiz um bocado de filmes com o Spike Lee — como Faça a Coisa Certa, de 1989, e Febre da Selva, de 1991. Mas minha base, bem antes do cinema, foi o teatro. Meu trabalho nos palcos envolvia esse desejo de disseminar histórias da comunidade negra e também atrair uma plateia negra.
Como alcançou esse objetivo? Atuei por muito tempo na The Negro Ensemble Company (NEC), uma companhia toda composta de atores negros em Nova York. Fiz o circuito de peças de August Wilson (dramaturgo negro americano) e muitas montagens de Shakespeare, também em Nova York, voltadas para o público negro. Então é algo que eu prezo e que faz parte da minha história.
A diversidade é um assunto em voga no mundo do entretenimento, e que vem causando celeuma no meio das premiações, como o Oscar e o Globo de Ouro, que perderam relevância ao ser acusados de racismo. O que falta à indústria para assimilar de vez diferentes etnias, para além de apenas reagir à correção política? É preciso entender que há uma variedade de vozes a ser ouvidas. É uma alegria para mim poder fazer uma série como essa, por exemplo, mostrando como é a vida de um grupo de pessoas que são constantemente afetadas pelo que acontece fora de seu espectro racial.
“Ao embarcar nessa de ser ator, não almejei ser um exemplo. Mas gosto de pensar que a popularidade do meu rosto ajudou alguém da minha cor a ser contratado em algum lugar”
Pode explicar melhor? Pessoas não brancas vivem situações particulares vinculadas à sua cor, e contar essas histórias dá a oportunidade de ver, de dentro para fora, um mundo do qual talvez o público não saiba muita coisa. Mostrar essas pessoas somente como parte de uma trama em torno de brancos é como ter em casa um funcionário negro que é considerado parte da família, mas no fundo, no fundo não é. Você pode amar e se envolver com alguém de outra etnia e aprender com essa pessoa, mas apenas quando elas são representadas em uma série ou em um filme com elenco majoritariamente formado por seus semelhantes é possível conhecê-las em outro patamar de intimidade. Pois não há nenhuma cultura social dominante influenciando suas ações.
Na série, o senhor divide o protagonismo com uma adolescente, interpretada por Dominique Fishback, que cuida de Ptolomeu e o leva a entender que as mulheres não são tão frágeis quanto ele achava. Assim como seu personagem, aprendeu algo novo sobre o feminismo? Sendo um homem e sabendo como o mundo funciona, digo que a vida é cheia de quinas pontiagudas prontas para nos machucar, mas esses obstáculos podem ser assimilados melhor quando você é amado por alguém que o conhece bem, como uma mulher. Ptolomeu foi deixado de lado como um pedaço de lixo quando Robin, sua jovem amiga, aparece. Ela o tira do lixo, faz um polimento, e o transforma de novo em algo com valor. É uma pessoa que conserta o que está quebrado e é assim que enxergo as mulheres — não que esse seja o trabalho delas, mas as mulheres são muito boas em organizar o caos e consertar o que parece não ter mais jeito.
O senhor está casado há quarenta anos com a atriz LaTanya Richardson — e, durante esse período, ela o ajudou na luta contra o vício em drogas. Sua esposa também o “consertou”? É, digamos que sim, ela me consertou. LaTanya também me tirou do lixo, me poliu e me colocou de pé novamente. Mas, no meu caso, era eu quem estava me jogando fora, e não o resto do mundo. Ela me ajudou a sair dessa e a me descobrir novamente, especialmente no meu trabalho.
Publicado em VEJA de 16 de março de 2022, edição nº 2780



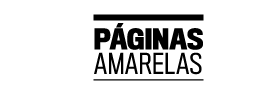



 Por irregularidades, TCU pede que governo regulamente fundo do pré-sal até janeiro
Por irregularidades, TCU pede que governo regulamente fundo do pré-sal até janeiro Mortes por dengue representam um recorde ruim para o governo Lula
Mortes por dengue representam um recorde ruim para o governo Lula Pacote de corte de gastos está pronto e deverá ser anunciado após Cúpula do G20
Pacote de corte de gastos está pronto e deverá ser anunciado após Cúpula do G20 ‘Símbolo máximo na nossa tragédia coletiva é a fome e a pobreza’, diz Lula ao abrir G20
‘Símbolo máximo na nossa tragédia coletiva é a fome e a pobreza’, diz Lula ao abrir G20 Confederação Brasileira de Voleibol avança na agenda climática
Confederação Brasileira de Voleibol avança na agenda climática








