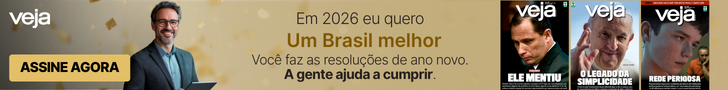A vida vai ao tribunal
Decisão jurídica de desligar os aparelhos que mantêm vivo um bebê de 11 meses alimenta uma discussão espinhosa: a quem cabe decidir a hora certa de morrer?

O inglês Charlie Gard tem 11 meses e sofre de uma doença genética incurável, a síndrome de miopatia mitocondrial. Ele já não movimenta o corpo, não consegue respirar sem a ajuda de aparelhos, não enxerga, não escuta e tem convulsões. O tratamento consiste na reposição de vitaminas, mas o efeito é praticamente nulo. Até hoje, apenas dezoito casos como o dele foram comprovados cientificamente no mundo — em média, a sobrevida foi de apenas quatro meses. O futuro de Charlie está tragicamente traçado. Mas a história do menino chamou a atenção mundial por outra razão. Seus últimos momentos de vida se tornaram alvo de uma ruidosa e intrincada disputa judicial. Os pais, Chris Gard e Connie Yates, querem mantê-lo vivo, mesmo que seja em estado vegetativo e por pouco tempo.
Há duas semanas, porém, o Hospital Great Ormond Street, em Londres, onde o bebê está internado desde outubro, ganhou uma ação na Corte Europeia de Direitos Humanos para desligar os aparelhos de auxílio extracorpóreo. Antes do veredicto da instância máxima da Justiça, os pais de Charlie haviam recorrido a outras três instituições britânicas, com sucessivas derrotas nos tribunais.
A decisão legal foi tomada em meio a uma grande campanha na internet de apoio à luta dos pais. Eles haviam arrecadado o equivalente a 5,5 milhões de reais, com o objetivo de pagar um tratamento experimental para o filho nos Estados Unidos. A terapia, no entanto, de pouco serviria. O tipo da doença do menino, causada pela mutação de um gene específico, o RRM2B, é reconhecidamente muito mais grave do que a variante para a qual a terapia americana já foi testada. O caso fez com que dois chefes de Estado com ideias diametralmente opostas se manifestassem de maneira semelhante, contra a decisão do hospital. “Se pudermos ajudar o pequeno #CharlieGard (…), ficaremos lisonjeados em fazê-lo”, publicou Donald Trump, no Twitter. “Defender a vida humana, acima de tudo quando está ferida pela doença, é um dever de amor que Deus confia a todos nós”, afirmou o papa Francisco. O Vaticano chegou a oferecer seu hospital, o Bambino Gesù, para receber o menino.
Os médicos ingleses argumentaram que prolongar a vida de Charlie artificialmente só tem trazido sofrimentos, sobretudo ao garoto. Para eles, tê-lo ligado a tubos é desumano e irracional. Os pais, por sua vez, afirmam simplesmente que enquanto há vida há esperança, simples assim. É um dilema dilacerante, e nem tão raro assim. A questão central é: a quem cabe o direito de decidir sobre a morte de uma pessoa, especialmente na primeiríssima infância? “Não há resposta exata nem jamais haverá”, diz o brasileiro Daniel Neves Forte, presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. A discussão sobre a hora certa da morte mexe com a própria condição humana. Portanto, “envolve questões morais, religiosas e éticas”, diz Luciana Dadalto, advogada especialista em saúde.
Houve um caso semelhante em 2005, nos Estados Unidos. Naquele ano, a Suprema Corte autorizou o marido de Terri Schiavo, uma mulher em estado vegetativo havia quinze anos, a desligar os equipamentos que a mantinham viva, contra a vontade dos pais da moça. “Como profissional, entendo a decisão dos médicos, mas como pai entendo a vontade dos pais de esgotar todas as tentativas de tratamento antes de desistir”, diz o geneticista Salmo Raskin, diretor do Laboratório Genetika, em Curitiba. “Nossa prioridade é dar aos pais do menino todo o apoio necessário para os próximos passos”, afirmou o hospital em nota. “Não haverá pressa em mudar os cuidados de Charlie, e quaisquer planos futuros de tratamento envolverão planejamento e discussão.” Na sexta-feira 7, diante de tanto clamor popular, o hospital londrino já avaliava a possibilidade de submeter o bebê a tratamentos experimentais.
Publicado em VEJA de 12 de julho de 2017, edição nº 2538


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO