Automópolis era o nome de uma cidade imaginária descrita na reportagem de capa da edição de VEJA que chegou às bancas com data de 25 de novembro de 1970. Tratava-se de um lugar cuja população migrara do centro para bairros distantes após a adoção indiscriminada do carro como o principal meio de transporte, provocando o fenômeno conhecido como espraiamento — a expansão horizontal do tecido urbano. Para além desse problema, considerado o maior vilão da mobilidade urbana, a narrativa fabular da revista constatava que, ao apostar demasiadamente nos veículos privados, Automópolis também passara a sofrer com congestionamentos monstruosos e o desprezo, por parte das autoridades, pelo transporte público, em favor da construção de obras viárias capazes de dar conta do afluxo da frota individual.
Qualquer semelhança notada entre aquela metrópole fictícia e São Paulo, por exemplo, não terá sido descabida. A capital paulista contabilizava, então, 700 000 carros. Hoje, são 6 milhões de veículos, de acordo com o dado mais recente do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), de março passado. “Perdeu-se a visão da cidade como projeto do homem; ela começa a ser desenhada para vender automóveis, seu projeto parece feito pela indústria automobilística”, criticava, na reportagem de VEJA, o já respeitado arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha.

Uma proposta para mudar essa desordenada rota foi noticiada pela revista em 1974, quando São Paulo estava prestes a iniciar a operação, em caráter experimental, da Linha 1-Azul do metrô. Na edição de 11 de setembro daquele ano, VEJA relatou a inauguração do sistema curitibano posteriormente apelidado de “Ligeirinho” — e hoje notabilizado em todo o mundo como BRT (Bus Rapid Transit). Nele, os ônibus trafegam por vias exclusivas e o embarque ocorre em estações situadas no mesmo nível dos veículos, o que agiliza o processo. “Quase um metrô” era o título da reportagem, que comparava a econômica invenção do arquiteto Jaime Lerner, à época prefeito da capital paranaense, à dispendiosa novidade paulistana — em que o custo do quilômetro era quase 600 vezes mais alto —, que seria tema de oito páginas na semana seguinte.
Ações desse porte, aliadas à crise do petróleo, com o consequente impacto no preço da gasolina, pareciam conspirar para tirar das ruas os automóveis particulares. Não foi o que se deu. Em novembro de 1975, a revista sinalizou o paradoxo: em vez de caírem depois do nono aumento no preço do combustível desde 1973, as vendas de veículos aumentaram 2,2% no mês posterior ao do reajuste. Vem daquele período a formulação das primeiras ciclofaixas e corredores de ônibus em São Paulo, numa tentativa de incentivar o uso da bicicleta e do transporte público, especialmente o novíssimo metrô.
Em marcha mais lenta, o Rio de Janeiro seguiu o exemplo paulistano e pôs em funcionamento o seu primeiro transporte subterrâneo em 1979, ampliando-o ao longo da década de 80. Nada que em 1987 evitasse a depredação de 150 coletivos no centro da cidade, fato estampado na capa de VEJA de 8 de julho. Na reportagem, a revista se valia da revolta para radiografar a situação do transporte público no Brasil — caracterizando-o com adjetivos nada lisonjeiros, como “selvagem”, “sub-humano” e “precário”. O quadro penalizava não apenas os usuários como também as empresas dedicadas ao setor, que não conseguiam investir em suas frotas diante do descaso do governo. No modelo carioca, em operação desde os anos 1960, as antigas lotações funcionavam sem um contrato de prestação de serviços que garantisse qualidade. Tal sistema só seria alterado em 2010, quando ocorreu no Rio a primeira licitação pública de linhas de ônibus — algo que São Paulo havia feito quinze anos antes.

Em meio aos debates sobre o alcance e a qualidade do transporte coletivo no país, em fins da década de 80 Curitiba iria novamente exibir seu pioneirismo ao pôr em circulação ônibus adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. A atenção a esse público só começaria a ser notada em outras capitais a partir de meados dos anos 1990, com a instalação de elevadores de acesso ao metrô paulistano e a reserva de assentos especiais, por exemplo. Em março de 1993, a capital do Paraná estampou a capa de VEJA por ser “a cidade-modelo de um Brasil viável” — depois de quase vinte anos, o Ligeirinho aparecia entre as justificativas da fama de Curitiba, que conseguira criar uma solução original, simples e eficiente para a questão da mobilidade urbana. Àquela altura, a ideia já passava por testes em Nova York. Atualmente, está presente em cerca de 250 cidades mundo afora.
Poucos anos mais tarde, em 1996, a propósito do rodízio de automóveis adotado em São Paulo, em vigor até hoje, a revista voltaria a tratar da praga do excesso de carros em várias capitais brasileiras, lembrando que, entre veículos elétricos, sistemas inteligentes de controle de trânsito, pedágio urbano e transporte público, a última alternativa continuava sendo a mais racional. Contudo, o governo federal demoraria cerca de quinze anos para admitir oficialmente que a mobilidade urbana deveria constar da lista de serviços básicos oferecidos à população. Sancionada em 2012, a lei que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana foi a primeira no país a versar sobre diretrizes nessa área. Entre suas recomendações está o incentivo ao transporte não motorizado, entendido como modalidade sustentável — e, portanto, desejável. “Temos de nos desprender da ideia de que tudo gira em torno dos automóveis”, disse a VEJA, em agosto daquele ano, o dinamarquês Jan Gehl, um dos mais respeitados urbanistas do planeta.

Por mais que muitos estudiosos não considerem a bicicleta a principal solução para o problema da mobilidade urbana brasileira — caso do economista americano Edward Glaeser (leia a entrevista na página 85) —, ela tem se consolidado como uma extraordinária opção de transporte em várias metrópoles do mundo. Isso vem acontecendo sobretudo depois que Barcelona, Paris e algumas cidades alemãs lançaram, a partir de 2007, copiando uma iniciativa holandesa, sistemas de bikes compartilhadas interligados com a rede de transporte público. A ideia acabaria sendo adotada também por aqui. Em uma reportagem da edição de 24 de setembro de 2014, a revista tratou do assunto “ciclovias”, resgatando os casos de Nova York e Bogotá, que, assim como São Paulo, tinham enfrentado resistência quando do surgimento da alternativa. O texto lembrava que, em capitais onde essa modalidade já estava extremamente consolidada, como Amsterdã e Copenhague, os benefícios resultavam de ações iniciadas havia décadas, com o fim da II Guerra. Ao contrário da imaginária Automópolis da capa de VEJA de quase meio século atrás, tais cidades souberam lidar com diferentes horizontes de prazo para vencer o problema. Quando o assunto é mobilidade urbana, o passado anda junto do presente e do futuro — como se constatará nas reportagens a seguir.
Publicado em VEJA de 5 de setembro de 2018, edição nº 2598


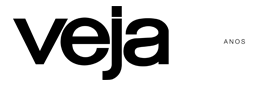


 Números da Previdência pioram e indicam urgência de nova reforma
Números da Previdência pioram e indicam urgência de nova reforma Dor associada a depressão pode acelerar declínio cognitivo
Dor associada a depressão pode acelerar declínio cognitivo Cidade-esponja: São Paulo planta ‘jardins de chuva’ para conter enchentes
Cidade-esponja: São Paulo planta ‘jardins de chuva’ para conter enchentes Cortar gastos na área militar será tarefa complicada para Lula
Cortar gastos na área militar será tarefa complicada para Lula Movimento nas redes pela PEC da escala 6 x 1 me preocupa, diz Hugo Motta
Movimento nas redes pela PEC da escala 6 x 1 me preocupa, diz Hugo Motta








